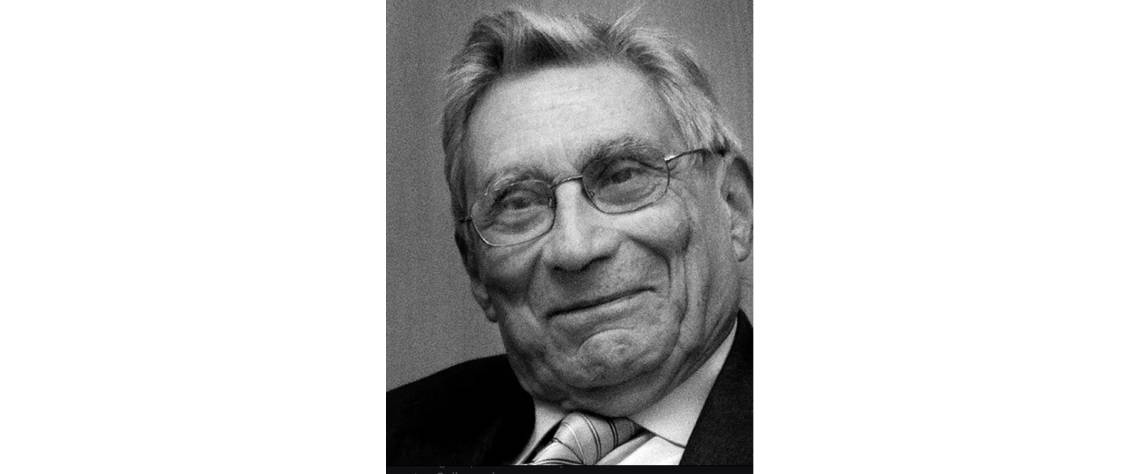
Eu era muito jovem e um dia chegou-me às mãos o livro “Mangas Verdes com Sal”, do Poeta Rui Knoplfi, que tinha um prefácio, cheio de vinagre, de Eugénio Lisboa. Era um exemplar maltratado, de uma primeira edição da obra e recordo como o li: sôfrego e exultado. O texto de Lisboa era luminoso e cortante, exaltante e exabundante. Era verrinoso. Ali estavam as firmes ideias do ensaísta. Fiquei chocado com a forma como ele zurzia alguns dos meus mitos – entre eles, Noémia de Sousa –, mas fascinou-me logo aquele espírito seu livre e provocatório, aquela sua verdade, aquela sua virulência, sobretudo lexical, aquela escrita saborosa e informada, encantada e encantadora, aquelas inúmeras citações, aquela erudição toda, aquela torrente, tudo aquilo teve um impacto tremendo sobre mim. Li, depois, quase tudo o que encontraria do crítico, especialmente os dois volumes de “Crónica dos Anos da Peste”.
Eugénio Lisboa, que hoje abandona o reino dos vivos, aos 93 anos – nascera em Lourenço Marques a 25 de Maio de 1930 –, tinha uma coisa de que gosto muito: a coragem de procurar e dizer a verdade. A sua verdade. Podemos gostar ou não do que escreve, do seu juízo crítico, muitas vezes acerbo, ou das injustiças que provavelmente cometeu, mas numa coisa temos que lhe fazer justiça: era dono de uma escrita fascinante. Era um ensaísta instigante, um cronista viperino e um memorialista lustrado. Escreveu poesia, quis ser poeta. Os deuses estavam com o prosador e o seu sangue bom. Basta que nos atenhamos às suas vastas memórias: “Acta Est fabula”. A expressão da antiga língua latina era usada quando terminavam as encenações: “A peça está representada”.
Conheci-o na mesma ocasião em que a Noémia de Sousa me levou aos ombros do Rui Knopfli, nos corredores da Gulbenkian, em Fevereiro de 1989, aquando do mítico I Congresso de Escritores de Língua Portuguesa. Nesse mesmo ano, Eugénio Lisboa revistou “a capital da memória”, como haveria de consignar Maria de Lourdes Cortez. Recebemo-lo de braços abertos. Anoto parte do seu diário, citado nas memórias (“Acta Est fabula”), uma entrada de 04.06.89: “Ontem, almoço em casa do José Soares Martins, com a presença de alguns moçambicanos: professores, escritores (Raúl Honwana, Nelson Saúte, Baka Cossa (sic), Gilberto Matusse, José Cunha). Conversa animada, franca, surpreendente. Entre Cossa e Honwana estabelece-se um diálogo vivíssimo, revelador das tensões e “bifurcações” existentes actualmente e, ao mesmo tempo, da liberdade de expressão que se conquistou (por quanto tempo?). Conversa com Gilberto Matusse, articulado e informado. Pergunta-me, à queima-roupa, o que penso de Sá de Miranda. Faz-me perguntas, revelando conhecer razoavelmente bem os meus livros. Idem, da parte de Cossa e de Nelson Saúte. Repetem que me consideram a mim e ao Rui Knoplfi escritores moçambicanos – que não abdicam de nós. Depois, querem saber como me sinto: moçambicano ou português? Digo-lhes que me sinto as duas coisas, como sempre me senti: dividido entre um Moçambique que me não sai do sangue e da memória e uma cultura portuguesa (europeia) que me alimentou desde sempre. Quando, em conversa, digo: `a vossa literatura`, corrigem-me, imediatamente: ´a nossa; tu és nosso´. Comovente.”
Noutra entrada do dia 09.06.89: “Perguntei há dias, ao Nelson Saúte – que mostra conhecer as minhas coisas, com algum pormenor – onde as tinha arranjado (ele tinha só 9 anos, quando eu saí de cá). Respondeu-me: “Umas comprei, outras emprestaram-me e outras roubei. “Pas mal. Não deixa de ser lisonjeiro.” Não desminto. Quem sou eu para fazê-lo, embora me tenha surpreendido o “outras roubei”? Creio, a esta distância, que deve ter sido na época em que eu ostentava aquela velha “boutade” de que roubar um livro era um acto de cultura. Mas não recordo que tivesse praticado este tipo de delitos. No mesmo dia, Lisboa anotava: “Daqui a poucos minutos, chega-me aí o Nelson Saúte, para uma entrevista para a revista “. Dei duas entrevistas para a Rádio, duas para a Televisão, uma para o “e, agora, esta para a “. Acho suficiente”.
Nesta longa entrevista falámos de quase tudo: do pai, que fora funcionário dos Correios, da sua infância, da ida para Portugal para cursar Engenharia, de Portalegre, o encontro com José Régio, o regresso, a Escola Industrial onde lecionou Electrotecnia e Mecânica, a colaboração no “Diário de Moçambique”, no “Paralelo 20” e, mais tarde, na “Voz de Moçambique”, publicações de onde iria resgatar textos que fariam parte do seu livro “Crónica dos Anos da Peste”, título sugerido pelo Rui Knopfli, a partir das “Crónicas dos anos da peste” que Eugénio Lisboa publicava então. Falámos do seu tempo na Beira, do “Notícias da Beira”, do Cine-Clube de Lourenço Marques onde se viam filmes marcantes, dos soviéticos Eisenstein ou Pudovkin, do polaco Wadja, entre outros. Falámos de Jorge de Sena. Da Associação dos Naturais de Moçambique. Abordei as polémicas com Alfredo Margarido ou Rodrigues Júnior. Quis saber mais sobre “Caliban”, Knopfli, Grabato Dias. Falámos do Rádio Clube e da memória do poeta Reinaldo Ferreira, que morreu a 30 de Junho de 1959. Nesse ano, Knopfli publicou “O País dos Outros” e começa a amizade entre ambos e do Eugénio com Carlos Adrião Rodrigues, um brilhante e culto advogado, que um dia disse uma das frases mais luminosas: “Craveirinha e Knopfli, o verso e anverso de uma poesia em evolução”. Cito-a de memória. Falámos da sua paixão pelo teatro, ele lembrou Sara Pinto Coelho, a mãe do meu saudoso amigo Carlos Pinto Coelho, que dirigia um programa de teatro no Rádio Clube, onde o Lisboa iria promover Racine, Régio, Montherlant, Ibsen. Falámos das suas empreitadas poéticas e do seu retorno a Moçambique, vastamente cartografado nas suas memórias.
Uma entrevista não dá para tudo, mas aquela é uma primeira arqueologia literária que eu estabelecia com ajuda de um dos protagonistas da cena literária no meu país antes do advento da independência. No volume III da “Acta Est Fabula” iria encontrar pormenores e detalhes que iriam satisfazer a minha gulosice pela nossa história literária. Craveirinha deu-me, nas nossas longas conversas, depoimentos inesquecíveis dessa fase. Knopfli idem. Mesmo com a sua língua, igualmente afiada. Eugénio Lisboa escreveu páginas fascinantes sobre essa época. Sobretudo do seu magistério soberano. Tive o benefício de o ouvir, também, no contacto pessoal, muitas vezes. E sinto-me grato. Como me sinto grato pela sua amizade. Para sempre.
Numa entrada de 17.06.89, já em Londres, Lisboa dava conta: “No dia 11, à noite, depois do regresso da Matola, foi o resto da longa entrevista com o Nelson Saúte. É impressionante o que esta gente nova conhece, com minúcia, daquilo que outrora deixámos disseminado por livros, jornais e revistas. Não é apenas conhecer: é um conhecer tão apaixonado, que quase me aterra.” Com data de 30.05. 96, a seguinte entrada: “Ontem, à noite, jantar em casa do Soares Martins (adido cultural na embaixada de Portugal). Estavam presentes o Nelson Saúte e a mulher (com um bebé de dois meses) e o António Sopa. Foi um convívio simpático e fizemos considerável má-língua. Sem vinagre.” O Irati nascera em Março de 1996.
Convivi com o Eugénio Lisboa, em Londres, em Sevilha, em Lisboa e em Maputo. Uma vez, em sua casa de S. Pedro de Estoril, ele reuniu: Rui Knoplfi, Noémia de Sousa, Fonseca Amaral, Eduardo Pitta e eu próprio. Foi um dia inesquecível. O Fonseca Amaral morreria pouco tempo depois. (Aliás, Lisboa faria, anos mais tarde, o prefácio da obra deste poeta mestre da geração do Knopfli, vergastando-o, o que me pareceu injusto e injustificado). O Knoplfi morreu no Natal de 1997, Noémia em Dezembro de 2002, depois de editarmos o seu “Sangue Negro”. Eduardo Pitta faleceu há meses, a 25 de Julho de 2023. Agora, é o Eugénio Lisboa que desaparece, entre os membros daquela tertúlia.
Quando lancei a antologia “Nunca Mais É Sábado”, pedi ao Eugénio Lisboa que a apresentasse. Não se furtou e cumpriu o mito do seu vinagre milenar, zurzindo-me literalmente. Discordei dele nos critérios, como é óbvio. A poesia moçambicana não poderia apenas ser o escol dos eleitos. Isso não arranhou a minha admiração por ele. Aliás, continuei a lê-lo e admirá-lo. Quando fez 90 anos, em 25 de Maio de 2020, escrevi um texto a saudá-lo. Accolade, diria ele. Na sequência disso mantivemos uma breve comunicação. Ele escreveu-me uma carta que me comoveu.
Nessa homenagem, lembrava-me do facto de ter sido seu hóspede em Londres. Hóspede de Maria Antonieta, a sua mulher, que me acolheu com tanta atenção e carinho. O “Epílogo” da “Acta Est Fabula” é uma pungente evocação de Maria Antonieta, que morreu em 2016. É um livro desolado e desolador. Pungente. Há ainda o livro sobre as viagens e os seus diários. Os seus diários (“Aperto libro”) são dois volumes com uma bizarria que é estranha em toda a obra de Eugénio Lisboa: problemas de revisão. Falta de cuidado na fixação do texto. A despeito, a leitura dos diários é igualmente prazerosa.
Li, depois, os poemas, sobretudo na pandemia, que Eugénio escrevia para esconjurar a morte. Publicara antes uns volumes de poesia, sem a expressão nem dimensão da sua obra ensaísta e crítica. Era imenso na exegese, deslumbrante na hermenêutica. Na poesia não era tão destro. Disse-lhe que os deuses não o tinham protegido nesse quesito. Aceitou a minha opinião, mas foi contumaz na prática, sobretudo de sonetos, que o menorizavam. Os deuses podem ser generosos, mas não o são sempre.
Eugénio Lisboa não só escrevia luminosamente, como falava soberbamente. Era um tribuno exemplar e um conferencista brilhante. A sua conversa, erudita e sedutora, era subjugante e apaixonante. Lisboa dizia, a propósito de Alberto de Lacerda, que conversar com o Poeta de “Exílio” era melhorar o silêncio: “Conversar com ele era um prazer interminável e inesgotável. Era prodigiosamente culto, assassinamente observador, genialmente parcial, guloso de literatura, de pintura, de música, de escultura e de liberdade. Era um dos poucos génios da arte de conversar, que até hoje conheci. Diz um provérbio qualquer que não se deve falar a não ser que, com isso, se faça melhor do que o silêncio. A conversa do Alberto melhorava extraordinariamente o silêncio.” Lisboa era assim. Eu diria o mesmo dele. Lisboa era um conversador exemplar. Único, jubiloso. Era avassalador.
Num livro de matérias várias (miscelânea de ensaios, estudos e crítica), a que chamou justamente “O Objecto Celebrado”, Eugénio Lisboa cita Marco Aurélio, no frontispício, que afirma: “Tudo passa num dia, o panegírico e o objecto celebrado”. A sua obra imensa é exactamente isso: um “objecto celebrado”. Inteligente, ágil, penetrante. Sedutora. Absolutamente sedutora. Subjugava, era tão bela e iluminada. Uma longa crónica dos intermináveis anos da peste. Obra apolínea, caprichada, admirável. Catita.
Recordo-me de o ouvir falar de gatos, de livros, de música, de pintura, de teatro, de cinema, de Régio, de Sena, de Gide, de Montherlant, da sua velha Lourenço Marques (minha Maputo), da luz do Índico, da “Voz de Moçambique”, do Knopfli, do Craveirinha, de Londres, de Veneza, das cidades, dos escritores e da vaidade de alguns, do génio que admirou, ou, simplesmente, da estupidez humana. Sempre culto, felino, sensível. Eugénio Lisboa era sempre fascinante, mesmo quando se discordava dele. Imodesto, ufano, vasto, brilhante, luminoso, espantoso, vibrante, vívido e ofuscante. Ostensivamente inteligente e culto. Tinha o vicio impune da leitura. Fez dos livros o seu magistério. Até ao fim. Acaba de morrer um sábio. Um dos últimos neste tempo sem lustro, génio ou cultura.
Acta est fabula.
KaMpfumo, 9 de Abril de 2024












