
Nelson Saúte
António quadros, joão pedro grabato dias, frey ioannes garabatus, mutimati barnabé joão - 90 anos
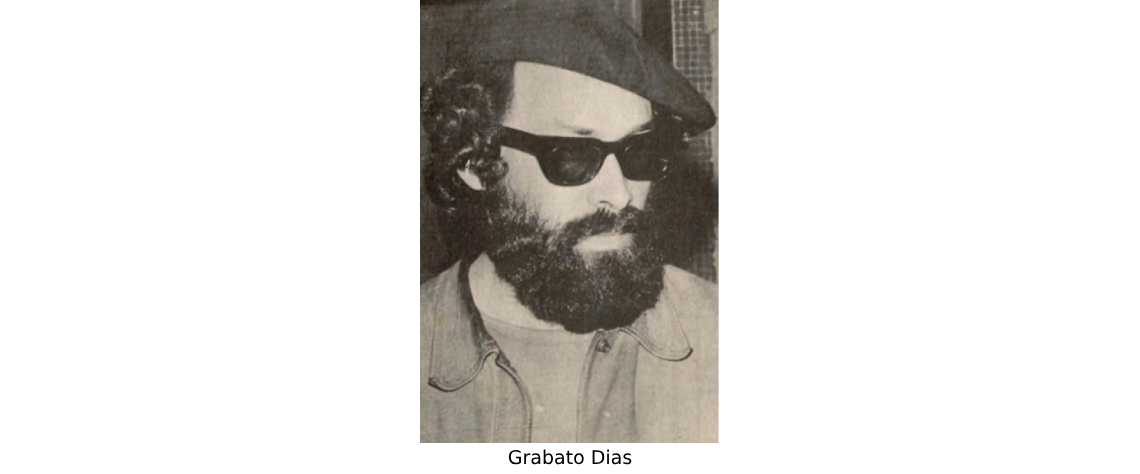
Eu, o Povo
Conheço a força da terra que rebenta a granada do grão
Fiz desta força um amigo fiel.
(Mutimati Barnabé João)
Quando, naquele remotíssimo sábado, de 2 de Julho de 1994, o Luís Carlos Patraquim me ligou a dar a notícia da morte de António Quadros, já se tinha balcanizado o mito do guerrilheiro morto na frente de combate que deixara “Eu, o Povo”, como legado ou testamento poético da revolução, que fora o breviário de jovens que o estudariam afanosamente anos a fio como uma espécie de cartilha. Reconheço-me nesses moçoilos e nesse livro e naqueles poemas inauditos. Não tenho dúvida de que fizeram de nós mais moçambicanos. “Mutimati é a voz individual que corporiza a voz colectiva.”
Tinha visto, entretanto, o filme de John Ford, “O Homem que Matou Liberty Valance”, e continuava a sufragar a lenda mesmo diante da verdade. Aliás, anos mais tarde, ao antologiá-lo, em “Nunca Mais é Sábado”, no texto biográfico redigi: “a lenda por vezes torna-se verosímil com o tempo”. A colectânea, de 2004, também resgatava outro dos seus heterónimos, o mais facundo de todos: João Pedro Grabato Dias. Parece haver, em termos biográficos, um apelo recorrente nas datas: em 1964, António Quadros vai para Moçambique, em 1984 é o epílogo dessa experiência, o ocaso da sua vida dá-se em 1994.
À época, eu batucava a minha prosa no jornal “Público” e dei conhecimento ao meu editor, Torcato Sepúlveda, de gratíssima memória, deste infausto acontecimento. Quando me dirigia para a redação, aonde iria fazer o obituário que se impunha, recordei-me de um livro que me assombrara nos meus tempos de debutante. Encontrara-o numa vetusta livraria do Alto-Maé, que hoje cedeu espaço e memória a uma dessas lojas que vendem quinquilharias. Era um livro de pequeno formato, tê-lo-ei perdido algures, na defluência dos anos. A despeito, o seu humor truculento e profundamente feroz ainda ecoam na memória: “Como o morto nunca nos diz nada / vem daí o extremo penoso da sua presença”. O título da obra – “O Morto – Ode Didáctica” (1971) -, assinado por João Pedro Grabato Dias, o seu heterónimo mais exabundante.
Fora o Luís Carlos Patraquim que me dera a ler “40 e Tal Sonetos de Amor e Circunstância e Uma Canção Desesperada” (obra inicial do poeta, editada em 1970). Quando isso sucedeu, eu já associava o nome de Grabato Dias ao de Rui Knopfli, o meu poeta electivo, por causa da revista “Caliban”, que ambos haviam editado nos anos 70. Disse-me o Knopfli em 1989: “Quem teve a ideia de se publicarem os cadernos “Caliban” foi o João Pedro Grabato Dias. O progenitor é ele”. Em 1996, Rui Knopfli assentiria que os publicasse, numa edição fac-símile, com a benesse do meu bom amigo José Soares Martins.
Foi através de um prémio, atribuído, em 1968, pela antiga Câmara Municipal de Lourenço Marques, hoje Maputo, que surgiu, para o espanto dos jurados, “40 e tal Sonetos de Amor e uma Canção Desesperada”. Quando foi da publicação da obra remunerada, dois anos depois, Eugénio Lisboa, que estivera no júri, redigiria numa das badanas: “Voz singular, ulcerada e mitológica, ensimesmada, onírica, ironicamente realista, brutal, descabelada”, tudo isto, segundo o ensaísta, “traduzido por uma extraordinária ´fauna lexical´ que a um tempo nos subjuga e desorienta”. Num dos volumes, da sua monumental obra memorialística, “Acta es Fabula. Memórias III – Lourenço Marques Revisited – 1955-1976” (2013), Lisboa dar-nos-á uma circunstanciada notícia desse acontecimento literário único e fará a cartografia desta personagem singularíssima: António Quadros.
Também devo ao Patraquim o conhecimento de “As Quybyrycas – poema étyco em ovtavas”, publicado em 1972, para celebrar os 400 anos de “Os Lusíadas”, ínclita obra de Luís de Camões. Assinada por Frey Ioannes Garabatus, tinha J. P. Grabato D. como seu Editor. Esta obra que mereceu um erudito prefácio de Jorge de Sena. “Cada um faz a homenagem que pode” – era a divisa do frontispício. O Editor, assim grafado, agradecia a M.L. Cortez, E. Lisboa, R. Knopfli e A. Quadros com um “embaraçado obrigado pelo estímulo permanente”. Já era óbvio o chiste literário. O autor era um heterónimo de António Quadros – o pintor.
António Quadros foi pintor e professor, artista gráfico e ilustrador, ceramista e escultor, fotógrafo e cenógrafo, pedagogo e apicultor. Interessou-se por arquitectura, comunicação, biologia ou ecologia. Era vário, múltiplo, complexo. Talvez daí, também se explique, a sua heteronímia, os vários poetas que encarnou: ele foi João Pedro Grabato, ele foi Frey Ioannes Garabatus, ele foi Mutimati Barnabé João, ele foi António Quadros. (“Pois que todo o proposto é uno e vário”, deixará escrito algures).
Para além dos livros acima aludidos, publicou: “A Arca – Ode Didáctica na Primeira Pessoa” (1971), “Uma Meditação. 21 Laurentinas e Dois Fabulírios Falhados” (1971), “Pressaga – Ode Didáctica” (1974), “Facto-Fado – Piqueno Tratado de Morfologia Parte VII” (de 1986), “O Povo é Nós” (1991) e “Sagapress” (1992). Todos eles assinados por João Pedro Grabato Dias. A sua poesia é exuberante, os seus versos são avassaladores, o seu tom desmedido, muitas vezes burlesco, faustoso, quase sempre, poesia que denuncia uma afortunada versatilidade imagética e um dos estros mais prósperos da poesia que se produziu em Moçambique.
António Quadros era uma personagem: complexa, heterogénea, vasta, abundante, profusa. Expendeu 20 anos da sua prodigiosa vida em Moçambique, entre 1964 e 1984, e aí produziu grande parte, ou a totalidade, da sua obra (“Produzo mas não crio, quando interpreto”.) Isto muito longe de “Mil novecentos e quarenta em lisboa. Lisboa após Expo” quando se entrevista com “o meu amigo da guiné / o ansiado irmão que vivia mais perto do sol” que “estava ali, tinha chegado no anoitecer de inverno / sem ser prevenido da névoa de lisboa, sem camisola de lã / sem calças à golfe, sem luvas de malha”.
A cidade, a “baixa laurentina”, o Djambu, o Continental, a “polana das coutadas”, Maxaquene, mais tarde, a Machava, fazem parte da sua geografia poética, numa vida em que, diz o poeta, “em palavras gastei tudo”. Muitos anos depois, do epílogo dessa experiência africana, não deixará de se referir aos seus “áfricos remorsos”, uma indisfarçável melancolia e, provavelmente, imprescindível desencanto. Quem o lê, atentamente, escrutina na sua poesia o estertor de um tempo – isso é comum a Rui Knopfli – e o entusiasmo pelo tempo ulterior que que lhe provocará um inevitável desengano. A revolução teve as suas contradições e, de permeio, acotovelou quem não devia.
Não o conhecera pessoalmente, mas sabia-o figura lendária em Moçambique. Tenho uma vaga memória de o ter visto, de relance, algures em Maputo. Mas pode ser uma paródia da minha própria memória. O José Capela (nome de historiador de José Soares Martins) falava-me amiúde dele, com saudade, das vezes que este o visitava e ficava, à varanda, a escrever ou a pintar. Tinha, aliás, obras de Quadros nas paredes. O José Craveirinha (“sinto que fiz um verso à Zé Cravé, alô Mafalala!”) também me falava dele. O Rui Knopfli falou-me dele. O Luís Carlos Patraquim, idem. A Amélia Muge, outrossim. A minha amiga Lisdália, de saudosa memória - (“Feitiços? Vivi deles, vivo, como de factos em bruto”, entre outros, “no rir da Lisdália”) – rememorava, liricamente, João Pedro Grabato Dias. Quem não me falou de António Quadros?
António Augusto Lucena Quadros nasceu em Santiago de Besteiros, em Viseu, a 9 de Julho 1933, onde iria falecer a 2 de Julho de 1994, a dias de fazer 61 anos, depois de muitos exílios. (“Nunca me libertei da infância.”) Estudou Pintura na Escola Superior de Belas Artes do Porto e Gravura e Pintura a fresco em Paris. Parte da sua obra plástica está antologiada em “O Sinaleiro de Pombas” (2001).
Numa entrevista à revista “Tempo”, quando deu à estampa a sua glosa camoniana – Camões e Fernando Pessoa eram seus deuses tutelares – afirmaria: “Se eu soubesse o que é ser europeu, saberia talvez o que é ser moçambicano. Tirando o anedotário da coca-cola, falta a soma das criações de mais de duas gerações, para se definir o que é ser moçambicano, para o bem e para o mal. Daí a tremenda responsabilidade de um criador, hoje e aqui, onde o pouco que há feito muito pouco denuncia o muito que há por fazer (...) No fim de contas, haverá dois mundos, não sei. A “tese” que o meu trabalho defende é que existe só um universo e nós com ele. Se à poesia de minha lavra se pode censurar a falta de tambores, luares africanos e queimadas, note que a que produzi de 50 a 64 pelos sucessivos exílios em que andei, e onde o mental não foi o menor, é impublicável por isso mesmo”.
Não me parece que haja dúvidas que este homem singular sabia exercer a arte de pitonisa e haveria de se antecipar à discussão da moçambicanidade na sua extensa e complexa obra. Mais do que isso: quis zombar da História e inventara a mítica obra que faz a sagração de Moçambique livre: “Eu, o Povo”. “Mutimati é a voz individual que corporiza a voz colectiva” – assim se escrevia no frontispício: “É agora pertença de Moçambique. O Povo Moçambicano é o seu Autor”.
Sabe-se: António Quadros não conseguiria descartar-se da suspeita de ser o autor daquele hino da revolução e da nação emergente. Aliás, rezam os velhos mitos que Samora Machel terá feito, mais tarde, um repto irrecusável que irá resultar em “O Povo É Nós” (1991), uma glosa – ou uma sequela? -, de “Eu, o Povo”, assinada por João Pedro Grabato Dias.
António Quadros foi um permanente exilado (“estaremos sempre votados a este exílio”), nos vários solos que lhe pertenceram. “Com três estações intermédias, djambu, casa e colmeia / ou do rovuma ao maputo como diriam nas rolhas diversas” – escreve Grabato Dias, sempre com o seu humor finíssimo e assertivo. Foi cantado por José Afonso ou Amélia Muge, pouco lido e ainda menos discutido ou estudado, como mereceria.
Em 2021, em Portugal, foi editada uma antologia – “Odes Didácticas”, numa coleção de poesia coordenada por Pedro Mexia, na Tinta da China, com um extenso e importante posfácio de António Cabrita, que intenta interpretar a vasta e complexa obra de João Pedro Grabato Dias. O arquitecto José Forjaz fizera um texto imprescindível para a reedição de “Eu, o Povo” da Cotovia (2008). Releio o poeta. Volto aos versos que me perturbaram na juventude: “Devo velar os meus mortos. / Vigiá-los, com doçura, mas vigiá-los. / Estar atento nas franjas do silêncio. / Alguma coisa deve acontecer / na espera.” “Um morto esquecido é tantíssimo perigoso”. A paródia, a sátira, a critica acerba, sempre. “É preciso ter muita coragem para assumir o medo”.
Provavelmente, esquecido hoje em Moçambique. Luís Carlos Patraquim evoca-o num belo poema: “Frei Mutimáti Barnabé João”: “P´la estrada da Machava, à esquina da Meseta / como Rolando sob a última frechada / ou como quem tropeça piqueno / em um Morto muito / lhe devo versos – o cono! - / mai-lo zarolho que lhe deu / claramente visto o Povo, / lá vai Frei João, o Mutimáti, / ao grabato da Alma. // Psiu, D. Antónia; João dos barcos / desencorados da infância: Amélia, / múgica guitarra onde sob os cabelos / a voz e tu, menino, / que arado adunco nos mostrasse em obra, / visto que o autor é o seu próprio processo, / e dele nem Virgílio o nomeia / em verde prado onde os deuses apascentou; / Psiu, que pelo céu de Inhaminga, / p´lo caminho de Santiago com a Rosa na Arca/ e a sapata grossa ecoando, cavernosa, / uas quybyrycas de Barcelos, / lá Mutimáti mai-lo cachimbo / de chicaocao e canho adornando ogres, / floresta obscura, parva savana nívita.” E o poema lá vai e não termina sem evocar, outros deuses tutelares da poesia moçambicana: “o Cravé ainda salga os velhos espíritos/ e o Rui sangra a sombra ardida e verde”.
Ironicamente, quando morreu, estava para sair, naquele mês, o disco da Amélia Muge (“Todos os Dias”), que tinha uma canção com versos de João Pedro Grabato Dias, intitulada “Estar vivo”. Começava e terminava assim: “Estar vivo é estar à morte”. Foi o título óbvio para noticiar a passagem de António Quadros - “percebi logo a morte”, dirá ele num dos seus versos onde, como sempre, zomba da morte (ou tenta exorcizá-la?) -, que nascera a 9 de Julho de 1933, faz hoje, precisamente, 90 anos.
Cidade do Cabo, 9 de Julho de 2023
TINA

Nelson Saúte
Ooh, you´re simply the best
Better than all the rest
Better than anyone
Anyone I´ve ever met.
(Holly Knight e Mike Chapman)
Tenho 17 anos, subo lesta e distraidamente as escadas do prédio onde vivo, na vetusta Rua Simões da Silva, que entronca na Eduardo Mondlane, mesmo em frente do Arcebispado. Os elevadores estão irremediavelmente avariados, o edifício resiste ao milagre do tempo e tudo à volta é o arremedo do belo livro de Manuel Rui “Quem me dera ser onda”, que lemos com gáudio, onde tudo cabe nas nossas incongruências e nos usos idiossincráticos da cidade. Estamos no final do ano de 1984. Vivo no segundo andar. Elevador para quê? Subo as escadas entregue aos meus pensamentos e, de repente, sou abalroado por uma mulher.
Do vão que se abre no meu andar, numa balaustrada interior, ouve-se a poderosíssima voz de Tina Turner. Ela canta poderosamente “What´s Love Got to Do Whit It”, uma das faixas do disco “Private Dancer” e eu entrego-me à beleza visceral daquela música. O som era da telefonia de uma das casas vizinhas. Naquele tempo, a Rádio Moçambique era a fonte da nossa educação musical. A TVE também, sobretudo nos inesquecíveis programas do Jorge Morgado, ou nos chamados interlúdios musicais. Foi ali onde aprendi tudo o que sei de R&B.
Creio, aliás, que seria na televisão com imagens trêmulas – porque era difícil acertar com a antena e o sinal – que vi, pela primeira vez, deslumbrado e arrebatado, Tina Turner. Era brutal no palco, tinha uma poderosa presença. A sua voz. Depois, na casa do Manuel Maurício, que está lá nos mesmos páramos para onde a Tina agora emigra, íamos ver aqueles vídeos que vinham das Américas nas cassetes Betamax, antes das VHS, na companhia do meu mano Luís Loforte.
Os anos 80 foram anos extraordinários. Anos miseráveis materialmente, mas anos de um humanismo irrepetível. As pessoas eram solidárias, partilhavam o que não tinham. As portas ficavam abertas para os amigos e os vizinhos, ou os familiares que vinham de longe. Víamos televisão na casa dos amigos ou nos grupos dinamizadores. Nem todos tínhamos a fortuna daquela caixa mágica. Eu tinha, na casa de família de Ajamia e Fausto Loforte, que me haviam sufragado como oitavo filho.
Eram anos de fome, de bichas de tudo, nas lojas do povo, nas cooperativas de consumo, nas padarias. As pedras serviam para marcar o lugar que nos caberia na refrega, seja para o que quer que fosse, nas bichas. Na escola tínhamos a benesse das maçãs do Botha ou o queijo que vinha da América e que nos animava aos intervalos na Josina Machel. Quando regressávamos da escola, da rua sentíamos, invariavelmente, a inescapável fragrância do repolho das casas. Éramos felizes e não sabíamos.
Em casa do Manuel tínhamos sessões para ver e discutir se Michael Jackson era ou não melhor que o Prince. Creio que, à excepção do anfitrião, não tínhamos dúvidas de que o autor do “Thriller” era melhor que o do “Purple Rain”. Foi no ano da morte de Marvin Gaye (morto a tiro pelo pai) e chorávamos a ver o vídeo de “Missing You” que Diana Ross cantava pungentemente para ele. Havia a malta do “break dance” que tinha o entusiasmo consentido das miúdas que nos eram inacessíveis. Lionel Richie cantava “All Night Long” e tinha já abandonado os Commodores, que faziam sucesso com “Nightshift”. As bangas eram as nossas festas com cerveja a barril e feijoada que desenrascávamos por aí! Madonna iria cantar “Live to Tell”. Gregory Abbout, “Shake you Down”. Cometíamos as nossas iniciais empreitadas líricas.
Foi assim que Tina Turner entrou estrondosamente nas nossas vidas, com aquele seu vozeirão, com aquelas míticas pernas, aquela cabeleira inadjectivável e o mais belo sorriso do mundo. Aquela sua beleza exuberante. Mais tarde saberia da sua história tumultuosa com Ike Turner, de quem herdaria o apelido e um passado assombrado. Também saberia que “Private Dancer” era afinal uma música composta por Mark Knopfler, dos “Dire Straits”, que eu iria admirar intransigentemente.
Os sucessos de Tina viriam em catadupa. Ela era um animal enérgico e eléctrico solto no palco. No estrado saiam-lhe todos os espíritos em vertiginosas actuações. Vieram os Grammys, veio Maracanã e 180 mil espectadores, ulteriormente o veio sucesso global, sobretudo com “Break Every Rule”, ainda nesses faustos anos 80. No final da década, consigo uma bolsa e vou estudar para fora. Levo comigo um pequeno reprodutor de cassetes e as músicas que eram a banda sonora da minha vida. Tina Turner fazia parte da lista. Ouvi-a obsessivamente. “Simple the best”.
Quem hoje tem o desagravo do YouTube, dos telemóveis e de todos os avatares da tecnologia e acede a isto tudo com facilidade não pode imaginar o que era a nossa vida para chegarmos à música que não era do nosso quintal. Tínhamos sempre a Rádio Moçambique, é certo. Agora, tudo isto mudou. O tempo em que a brasileira Regina Casé, na novela “Cambalacho”, parodiava a cantora, na belíssima interpretação da Tina Pepper, não existe mais. O mundo cabe-nos na palma da mão e num telefone celular. Os anos passaram vorazmente.
Tina Turner soube envelhecer. Soube sair do palco. Mudou-se para a Suíça. Casou no outono da vida, a sua primavera. Parecia, nos últimos tempos, ter superado os ditames da doença. Não há muito vi-a a falar das provações por que passara. Ela fora, afinal, uma sobrevivente sempre. Saberia sobreviver. Como sempre. A solo no palco ou em duetos inesquecíveis. De todos, sou indefectível de “Cosas de la Vida” com Eros Ramazzotti. Ainda hoje revi este dueto e deixei-me comover.
Agora que os jornais e as televisões anunciam que Tina Turner partiu, agora que se fazem todos os obituários, agora que vejo a sua fotografia nos “status” de tantos telemóveis, agora que os sinos dobram, agora que não me prostro no silêncio mas sim na sua música, agora que a tristeza me tolhe, aquele miúdo de 17 anos, no lanço das escadas do prédio da Rua Simões da Silva, volta a ficar totalmente enfeitiçado, totalmente subjugado, totalmente deslumbrado, totalmente atordoado e totalmente paralisado por aquela voz fascinante e possante, nos quase quatro minutos que dura aquele maravilhamento. Afinal, ali, naquele dia e naquele lugar, tivera uma epifania, uma revelação. Aquilo foi mesmo um arroubo, um arrebatamento, um enlevo. Parecia que a ouvia pela primeira vez. Sempre a ouviria pela primeira vez. Com o mesmo espanto do menino de 17 anos.
Oiço-a a cantar de novo, passaram-se quase quatro décadas, tenho agora 56 anos e me comovo até às lágrimas. Sinto a mesma fascinação pelo sortilégio daquela voz. Tina Turner será sempre “simply the best”, como queriam Holly Knight e Mike Chapman numa das músicas que a celebrizou. “Proud Mary”, cantou e dançou ela. Como se tivesse mandinga na voz e no corpo. “Proud Tina”, escrevo eu esta noite.
ANÍBAL ALELUIA
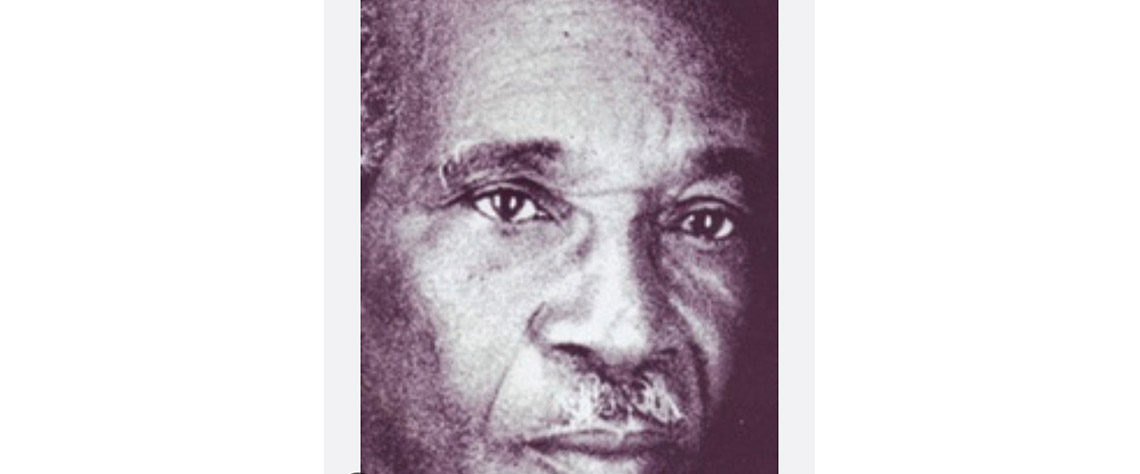
“Os homens, estáticos, observavam o préstito que avançava. Os corpos das mulheres, besuntados de óleo de rícino, brilhavam, nus, prendendo os olhares dos homens.
Moças de pomos semiesféricos, túrgidos, inclinando os rostos à admiração dos olhos, cerrando as pálpebras sob o véu do pudor; mulheres de meia idade, de corpos tatuados, ventres flácidos e seios semelhando a barbelas de vacas tísicas; velhas de cútis rugosa e pregueada pelo tempo; mulheres gordas e magras, belas e feias, todas expunham o seu físico com uma impudência sem limites.
Agora, lá longe, nas dunas cujos cimos se desenhavam em contornos suaves como que a traços de bistre, a face da lua poisava branca e redonda, vestindo as dançarinas com clâmides de prata que mal lhes velavam os corpos.”
(Aníbal Aleluia, “Mbelele e outros Contos”.)
Em Gaza, num ano de seca severa e de absoluta desolação, em que se adivinha e teme o apocalipse, com o povo a atribuir o infortúnio da falta de chuva à zanga dos “nguluves”, mesmo quando o “nhamussoro” imolava carneiros e bodes ou sacrificava galinhas, a esconjuração revelava-se sempre improficiente. Os homens pegavam nos seus “xitendes” e faziam malas e rumavam para a terra prometida do Jone e as raparigas deixavam para trás os berimbaus, abandonavam as palhotas e iam para Mafalala ou Estrada Nova comerciar o corpo. Os sobas resolveram mandar consultar “Nengueuassuma” (homem de perna de mosquito), o mais famoso “nhamussoro” em toda a região de Gaza e este não foi de tergiversações, mas sim assertivo: “Ide fazer mbelele...”
“Mbelele e Outros Contos”, que narra, de forma exímia, a ocorrência miraculosa da chuva, na sequência do mbelele, naquelas terras assoladas pelo desfortúnio, é um livro que Aníbal Aleluia escreveu em meados dos anos 50, mas só foi publicado em 1987. Estes belos contos estiveram para ser publicados em 1961 por iniciativa do jornalista Joaquim Correia. Contudo, o autor foi preso em Maio desse infausto ano e a sua mulher relacionou aquela detenção com as suas investidas literárias e pediu o livro de volta. O volume iria permanecer inédito longos proverbiais anos.
Aníbal Aleluia era acusado de ter contactos com Kamuzu Banda, do Malawi, era aviltado como “nacionalista africano”, ou visado por estar mancomunado com Baltazar da Costa na revolta do Norte do Zambeze. Tudo inverdades, patranhas, invencionices de quem o odiava, sobretudo os “bufos de Zóbuè”.
A ligação que, eventualmente, se lhe poderia assacar era aos chamados democratas, sobretudo Santa Rita e Soares de Melo, em cujo escritório trabalharia, vínculo que o levaria a colaborar na publicação “Itinerário”. Santa Rita, Soares de Melo, Ricardo Fernandes, Ovídeo Cordeiro ou Almeida Santos encorajam-lhe a escrever e ele fazia-o com denodo: animava-se por um espírito contestatário e incumbia-se da tarefa de falar de uma comunidade sem cidadania e das suas misérias. Debutaria em 1947 e foi decisivo o estímulo de Cassiano Caldas – figura tutelar para a geração da Noémia de Sousa e do José Craveirinha – que lhe pagava 250 escudos naqueles tempos difíceis. A escrita de intervenção era, por conseguinte, o seu apanágio.
Para além do “Itinerário” colaborou em “O Brado Africano”. Curiosamente, fê-lo na mesma época que Carolina Abranches. Aníbal Aleluia tinha uma rubrica mensal, intitulada “De mês a mês”, na qual se debruçava sobre várias personalidades. Um dia quis escrever sobre Noémia de Sousa, de quem ninguém sabia tratar-se, e resolveu pedir ajuda à Carolina Abranches do “Brado Africano”. Ela respondeu-lhe dizendo que conhecia Noémia de Sousa e sabia que era uma pessoa modesta e que talvez ficasse extremamente melindrada ao saber que iria ser objecto de um artigo no jornal. Aleluia redigiria o seu artigo com os materiais de que dispunha e, só mais tarde, descobriria que Carolina Abranches e Noémia de Sousa eram uma mesma pessoa: Carolina Noémia Abranches de Sousa.
A sua vida foi dura e marcada por adversidades. Não só a agrura da prisão, mas os afrontamentos ou ultrajes que teve que suportar. Certa vez redigiu um texto (“Dignificação do Trabalho”) criticando o salário de fome que era pago aos chamados “indígenas” e denunciando o próprio conceito de trabalho entre os nativos. Enviou-o para a publicação na qual colaborava. Não foi publicado. Quem dirigia o jornal mandou-o para o caixote de lixo e com o mesmo título redigiu um outro texto que estava nos antípodas daquele feito por Aleluia e que era um verdadeiro ditirambo às políticas laboral e salarial do regime. Não muito tempo depois o tal cavalheiro seria nomeado conselheiro de uma instituição em Portugal.
No tempo em que Aníbal Aleluia colaborava para o “Itinerário” e/ou “O Brado Africano”, nos anos 50, despontavam alguns dos nomes fundadores da literatura moçambicana. Ele acompanhava discretamente a sua produção, sobretudo a dos poetas: Noémia de Sousa, José Craveirinha, Rui Knopfli, Ruy Guerra, Fonseca Amaral ou até Santos Abranches (que teve um papel crucial na época).
Uma pérfida personagem, de seu epíteto Parafuso, que se comprazia em usar o pseudo linguajar negro, que racicamente classificava de “pretoguês”, fazendo, assim, pouco dos pretos, adquirira notoriedade. Aleluia sentir-se-ia vexado por essa personagem e rejeitava, por assim dizer, aquele tipo de narrativa. Noémia de Sousa, também, haveria de falar-me da espécie que lhe causara tal Parafuso e de objectar por completo aquele tipo de linguajar para caracterizar os moçambicanos.
Aníbal Aleluia falava, nos seus artigos, da injustiça social, da discriminação racial, proclamava a necessidade de se dignificarem os moçambicanos, advogando a premência de lhes serem facultados recursos para se desonerarem do sadismo social de que eram vítimas e no qual estavam atolados. Este era o escopo da sua escrita.
Como somos um país que não preza a memória, mas sim faz descaso do passado e do que realmente importa, estes artigos que mereceriam uma edição cuidada e uma atenção crítica dos nossos acadêmicos, não concitaram, até hoje, o entusiasmo indispensável para saírem do sepulcro dos jornais. A despeito, as nossas universidades afadigam-se a arrazoar, com volúpia, sobre questiúnculas e se deleitam com a enxúndia dos dias.
Henrique Aníbal Aleluia nascera a 30 de Agosto de 1921 na Península de Linga-Linga em Inhambane e era oriundo de uma família de antigos construtores de barcos. Carpinteiro, marçano, enfermeiro, professor, solicitador, auxiliar de veterinária, funcionário administrativo, calcorreara o país, sobretudo como enfermeiro, do extremo norte litoral em Palma, em Cabo Delgado, às províncias de Nampula, Tete, Manica, Gaza, Inhambane e Maputo. A sua permanência em Zóbuè foi indubitavelmente marcante. Os seus contos testemunham o seu conhecimento do país.
Teria sido um repto do seu amigo António Caetano Fernandes que o levaria a escrever ficção. Havia quem asseverasse, à época, na “Elo”, que existia um substracto orgânico que incapacitava o nativo de fazer ficção e a recusa de Aníbal Aleluia de a praticar seria então prova bastante. O autor, que vivia no Zóbuè, na zona europeia de inspecção de combate à tripanossomíase, encontrando-se, por essa razão isolado e com tempo que lhe enfastiava, resolveu contraditar aquele anátema.
Houve quem visse, nos seus textos literários, exposição dos segredos que seriam sagrados para os naturais. E houve quem o acusasse de “denegrir a comunidade africana”, o que lhe valeu impropérios, por vezes, violentos. Aleluia procurava tão somente “revelar facetas da vida e dos sentidos dos grupos menos evoluídos da minha terra com os olhos de dentro, fazer uma observação centrífuga da alma da minha gente”.
Guardados na gaveta durante décadas haveriam de ser publicados em finais dos anos 80 quando o autor tinha 67 anos. Talvez por isso, Aníbal Aleluia não se considerasse escritor: “Um homem que se estreia próximo dos 70 não pode ser de esperanças nem de mudanças”.
Recordo-me da sua extraordinária elegância, do seu formalismo, do seu rebuscado vocabulário e da sua retórica enformada, da sua conversa culta e inteligente, do seu asco à indigência e à mediocridade, do seu vasto percurso e do seu pecúlio. Da sua probidade. Da sua solidão. Da sua profunda solidão. Sobretudo recordo-me do facto de ser um homem marcado pela dureza da vida, pela tristeza, pelas provações, pelos tormentos, pelas aflições.
Ainda que fosse corrosivo ou incisivo na crítica e irónico e alegórico nas invectivas, fazia-o com galhardia. Aníbal Aleluia não se furtava a uma boa polémica. Gostava de alegar, de citar, de demonstrar, de pretextar. Denotava uma grande cultura literária. Aliás, quando frequentou a Escola de Professores devorava 10 romances por mês e era lendária a sua avidez pela leitura.
Aníbal Aleluia usou diversos pseudónimos na sua vasta actividade jornalística e literária: Roberto Amado, Augusto António ou Bin Adam. Colaborou, para além do “Itinerário” e “O Brado Africano”, em: “Voz Africana”, “Boletim Médico do Sul do Save”, “Almanaque de Moçambique”, “Elo”, “D´Aquém e D´Além Mar”, “Vértice”, “Notícias”, “Voz de Moçambique”, “Tempo” e “Charrua”. Não será de todo um disparate dizer que ele pertenceu ao movimento da “Charrua” ao lado dos jovens iconoclastas que o promoveram. Um dos seus integrantes, Ungulani Ba Ka Khosa, que um dia disse que esta era a melhor revista do mundo (uma “boutade”, certamente) quando se refere à “Charrua” nomeia, entre os seus constituintes, Aníbal Aleluia.
Aleluia sonhava escrever um ambicioso romance. A ideia central do livro defendia a “tese” de que o nacionalismo (ou o proto-nacionalismo, se se quiser) não nascera no Sul, mas brotara no Centro e Norte do País. Para o autor o berço da resistência não era Gaza, mas sim Angoche, entre o tempo de Mogossurima, no século XVIII até aos tempos de Farelay no limiar do século XX, quando os sultões cótis, de origem quiloana, opuseram o Crescente à Cruz.
A sua contumácia irá render-lhe dissabores também nos anos ulteriores à independência. Tendo uma posição equidistante politicamente, não se comprometendo com o regime, exercendo aliás sobre este um espírito crítico, acerbo muitas vezes, cedo viu os prosélitos e defensores do antigo regime se transfigurarem em revolucionários inequívocos. O que lhe causava urticária.
Era crítico firme das exorbitâncias da revolução, como a operação produção e de outros exageros e desregramentos que se praticavam. Foi contra o banimento da educação moral e via, como consequência, uma sociedade que resvalava para a imoralidade. Repugnava-lhe a lei da chicotada. Indignou-se quando um causídico, em plena Assembleia Popular, defende tal lei e foi ovacionado pelos deputados. Censurava o facto de, na administração pública, a inteligência e a competência se subjugarem aos interesses políticos que, a seu ver, não concorriam para o desenvolvimento equilibrado da sociedade.
Preso no tempo colonial, não faltou quem o quisesse ver proscrito no tempo subsecutivo. “Pertenço à primeira leva – caça grossa para a Pide, reaccionário para a Frelimo”, dizia sem acrimónia, mas profundamente desgostoso. Não praticava nenhum júbilo quanto ao futuro. Muito ácido nas suas análises, não se animava com aquilo que a efervescência política então produzia. Numa entrevista a Michel Laban terminava o seu juízo sublinhando: “Quero com isto significar que considero inquietante o futuro deste país”.
Aníbal Aleluia sentir-se-ia sempre marginalizado, quase sempre omitido. Tivera uma vida vivida sempre com dificuldades, atribulações, agruras. Em Agosto de 1990, quando o entrevistei para o livro “Os Habitantes da Memória”, quis, entre outras coisas, saber se ele, à beira dos 70, escreveria um livro de memórias. Não enjeitava de todo a ideia, contudo realçava o facto de que o seu “testemunho acordaria em algumas pessoas recordações amargas”. Foi quando me disse uma frase que eu nunca mais haveria esquecer: “Tenho um hábito que atrai empatias incómodas”. Usei-a para título.
A 21 de Janeiro de 1993 redigiu o prefácio para a sua novela “O Gajo e os Outros”. Esta é a sua derradeira efeméride literária. Pediu a Calane da Silva que lhe aduzisse um posfácio. A 13 de Maio, regressado de Inhambane, liga a Calane para saber do texto. Combinam um encontro no dia seguinte para que este lhe entregasse o texto. Esse encontro não acontecerá. Henrique Aníbal Aleluia morrera nessa madrugada, 14 de Maio de 1993, passam hoje 30 anos. O livro sairia em edição póstuma no mesmo ano com a chancela da AEMO. Era a obra subsequente a “Mbelele e Outros Contos”. Em 2011 a AEMO publica, postumamente, os seus Contos do Fantástico:
“Na Península de Linga-Linga onde nasci – cunha de palmares encravada entre o Índico, a nascente, e a baía de Inhambane, a poente, seis léguas a Sul do Trópico de Capricórnio , cobrindo perto de quarenta e cinco quilómetros quadrados, com centenas de fogos distribuídos por seis ou sete clãs – conheci um único nhanga, dos de tocar batuque, cantar e dançar.
Deixe a Península, infante, para ir estudar em Inhambane primeiro, seguindo depois para Morrumbene e acabando em Furvela.
Quatro anos depois, voltei à Península onde apenas me detive por ano e meio, aprendiz de carpinteiro barçal (sic) na pequena oficina de meu pai. Depois que parti dali, nunca mais voltei a morar na Península.
Cruzei então esta terra de lés a lés. Pelo litoral, conheço Moçambique do Cais de Maputo ao rio Rovuma (que atravessei). Para o interior atingi as regiões serranas do Alto Tete, pois vivo no Zóbuè. Com esta vida de nómada fui-me empobrecendo cada vez mais materialmente, enquanto enriquecia no conhecimento das nossas microetnias.”
(Aníbal Aleluia, “Contos do Fantástico”.)
Henrique Aníbal Aleluia: aqui o lembro hoje neste breve preito e neste país onde se pratica, com complacência, o esquecimento, a deslembrança e o oblívio. Ou neste tempo de desatenção, indiferença, desrespeito, omissão e descaso.
KaMpfumo, 14 de Maio de 2023
LUÍS CARLOS PATRAQUIM, 70 ANOS
Nelson Saúte
O Poeta Luís Carlos Patraquim nasceu, em Maputo, a 26 de Março de 1953. Cresceu na periferia da cidade. O pai – a família era oriunda de Lagos, no Algarve, em Portugal – foi funcionário dos Caminhos de Ferro e trabalharia, como mecânico de aviões, na DETA, que era a Divisão de Exploração dos Transportes Aéreos dos CFM: “E o teu silêncio, o teu silêncio, onde / Florescem, sangrentas, as acácias da Rua de Lidemburgo / E Lagos estremece em azul e punge” - escreverá numa pungente evocação ao pai: “Pela tarde onde caminho, / E a pedra se inscreve no sol que neva”. A mãe era uma leitora omnívora. Dos franceses Balzac ou Victor Hugo, passando pelo russo Fiódor Dostoiévski, aos portugueses Eça de Queirós, Camilo Castelo Branco ou Antero de Quental serão os autores mais frequentados. Aos seis anos já lia. A escrita, a inquietude e a rebeldia tomam-no muito novo. Escreve sonetos à Antero e à Camões. Com 16 anos colaborava numa página juvenil no “Notícias”. No liceu integrou um grupo que tentou fazer um jornal – “Progresso”. Do malogro desse projecto até à “Voz de Moçambique” é um salto. Ali estavam alguns dos intelectuais considerados progressistas naquele tempo. Contacta com Eugénio Lisboa, Rui Knopfli, Homero Branco. O contacto com José Craveirinha é decisivo. Começa a conhecer outros nomes importantes. Um deles, Fonseca Amaral, que, na época, estava em Portugal.
O afã do jornalismo, que lhe surge precocemente, será também a expressão da sua “liberdade livre” (como queria Rimbaud), que não se isenta da sua intuição poética. Reconhecerá, anos mais tarde, influências indesmentíveis de José Craveirinha e Rui Knopfli nas suas primícias literárias: a realidade e a arte da palavra. Aliás, a sua poesia, não muito tempo depois, será uma simbiose poética, uma espécie de osmose. Fonseca Amaral é outra referência importante. A língua portuguesa, sabe-se, tem uma importante tradição poética. Patraquim beberá sobretudo de Herberto Helder e António Ramos Rosa (ambos portugueses). Carlos Drummond de Andrade será também essencial. Uma referência irrefutável.
O exercício de rebeldia levou-o a um exílio voluntário na Suécia em 1973. A ideia era integrar a frente libertária. Contacta o movimento, escreve uma carta solicitando adesão à FRELIMO. Entretanto chega o 25 de Abril e em finais de Janeiro de 1975 retorna a Moçambique. Integra “A Tribuna”, então dirigida por Rui Knopfli. São companheiros de redacção: Mia Couto, Julius Kazembe e Ricardo Santos. Com Mia e Kazembe experimentam a crónica literária, a crónica sobre o quotidiano. Integra, depois, o núcleo fundador da AIM (Agência de Informação de Moçambique). Mais tarde, desembarca no Instituto Nacional do Cinema e participa da aventura lírica do “Kuxa Kanema”. Torna-se roteirista. Vivia-se o alvoroço da construção do “homem novo”. O cinema que se intenta no arroubo dos heróis ilustra a época. As contradições são visíveis. Mesmo as que se omitem. O Poeta experencia um tempo aziago.
Quando, em 1980, publica “Monção”, na mítica colecção Autores Moçambicanos, do INLD (Instituto Nacional do Livro e Disco), Luís Carlos Patraquim afirma-se, indubitavelmente, como uma poderosa novíssima voz da poesia moçambicana. A literatura era então dominada por uma perspectiva acirradamente ideológica. Havia, na nossa poesia, um dominante tom exaltadamente engajado ou comprometido – a chamada poesia de combate. O livro e a poesia de Luís Carlos Patraquim são um escancarado momento de disrupção. Fonseca Amaral e Machado da Graça estão no INLD. Para quem sabe das circunstâncias que então vivíamos poderá até estranhar a inclusão desta obra e a sua publicação. Ela serviria, afinal, para demonstrar que o regime era democrático, que aceitava publicar livros que não coincidiam com a retórica dominante. Nada que impedisse que os prosélitos da revolução o atacassem ferozmente. Viam naquela proposta uma poesia que não ia ao encontro do povo. Acusaram-no de hermético, questionaram para quem escrevia, como escrevia e por que escrevia.
Em Março de 2020, Luís Carlos Patraquim publicou uma antologia intitulada “Morada Nómada”, que reúne a maior parte da sua obra poética deste o seu livro primeiro. O volume, organizado por Zetho Gonçalves, inclui livros editados entre 1980 e 2020 e um volume inédito “Kilimanjaro”. Da sua vasta lavra poética avultam: “Monção” (1980), “A Inadiável Viagem” (1985), “Vinte e tal Novas Formulações e uma Elegia Carnívora” (1992), “Mariscando Luas” (com Ana Mafalda Leite e Roberto Chichorro, 1992) “Lidemburgo Blues” (1997), “O Osso Côncavo e outros poemas” (2005), “Pneuma” (2008), “Matéria Concentrada” (Antologia poética, 2011), “O Escuro Anterior” (2013), “O Cão na Margem” (2017), “Música Extensa” (2017), “O Deus Restante” (2017). Para além disso, é autor da novela “A Canção de Zefania Sforza” (2010). Publicou, outrossim, as seguintes colectâneas de crónicas: “Enganações de Boca” (2011), “Ímpia Scripta” (2011), “Manual para Incendiários” (2012) e “O Senhor Freud nunca veio a África” (2017). Escreveu “Mestiçagens do Olhar” (2007) sobre a pintura de Chichorro. No domínio do infanto-juvenil: “O Gala-Gala Cantor” (2014) e “O Coelho que Falava Latim” (2014). Estas são as efemérides literárias de Luís Carlos Patraquim, que é também dramaturgo, guionista de cinema e jornalista.
A sua poesia é eclética e escora-se no conhecimento e na exegese da tradição poética que lhe é anterior, num diálogo com os poetas que lhe antecedem e com aqueles que ele elegeu como seus precursores. É, sem dúvida, uma poesia que se articula numa arrojada investida palimpséstica. Palimpsesto significa texto que existe sob outro texto. A escrita funda-se e refunda-se neste consecutivo exercício. A escrita de Luís Carlos Patraquim é inequivocamente palimpséstica. Há sempre um texto subjacente. O texto que ele sugere dialoga sempre com um que lhe é anterior.
Patraquim é um poeta de conhecimento, um poeta glosador de poetas, um poeta leitor de poemas. Um poeta de uma proeminente erudição. O seu léxico poético é depurado. Para muitos um poeta hermético, críptico, ininteligível, impenetrável. Quando se consegue adentrar no seu universo, porém, somos capazes de experimentar o assombro da técnica, da imagética nela emprestada, da beleza inesperada das suas metáforas. A poesia é sobretudo isso: a imagem, a alegoria, o tropo.
Luís Carlos Patraquim é um poeta que reflecte sobre o ofício e tem poemas que são a incessante busca e compreensão do idioma, da linguagem, da expressão, do código ou do sistema poético. Para além disso, a interlocução com os outros poetas, o que acontece nas epígrafes, nas citações, nas alusões ou nas dedicatórias, é também uma espécie de estabelecimento de dicção própria, de uma gramática própria, de uma voz própria.
Não caberia aqui falar de toda a sua vastíssima obra. Entre os seus livros, concita-me “A Inadiável Viagem,” que ele publica em 1985 – justamente quando o conheci e tive a láurea da sua amizade - e que retoma os traços distintivos de uma linguagem poética instituída no livro precedente (“Monção”), e anuncia, por assim dizer, aquela que virá nas “Vinte e tal Novas Formulações de uma Elegia Carnívora”, a obra com que culmina a trilogia iniciática. Creio, aliás, situar-se, aqui, precisamente, a importância capital desta obra estelar, e residir aí, justamente, a minha predilecção por ela.
Herberto Hélder, José Craveirinha, Carlos Drummond de Andrade, Paul Éluard, Fernando Pessoa (Ricardo Reis), Jorge de Sena, Jorge Guillén, Henri Michaux, Pablo Neruda acompanham-no nesse exercício palimpséstico. Para além dos textos citados destes autores, encontramos aqui um diálogo abundante e inteligível com poetas como Heliodoro Baptista, Rui Nogar, Sebastião Alba, Noémia de Sousa. Diria que em “A Inadiável Viagem” se amplia, sem logro, este exercício iniciado em “Monção” e que prosseguirá nas subsequentes formulações poéticas.
Escreve Luís Carlos Patraquim no poema “Elegia de Sábado”: “em coro te exigimos o sábado/ nós que ferimos o pensamento da carne/ e a quem deslumbra o hierático inútil pranto/ dos mortos habitantes de nós/ repetida barra fixa até à lâmpada do desejo/ e somos o cansaço desta espera nos jornais de domingo/ ilegíveis ainda de alguma letra/ de nós o fôlego obstinado da rua/ para que a descoberta da língua amanhã senhor/ nasça da fornicação do sábado”.
Aqui se pode intuir a desafeição em relação a uma realidade social dissemelhante do “tempo do canto / conquistado a sangue” exaltado, indiscutivelmente, na obra inaugural. Pouco depois de publicar este livro (“A Inadiável Viagem”) escreveu dois poemas violentíssimos sobre o tempo que nele, de alguma forma, anunciara: um deles, sem título, sobre os mutilados de guerra e outro – a duríssima “Elegia Carnívora”. Os textos em causa iriam integrar o livro subsecutivo.
Patraquim: “e somos o cansaço desta espera nos jornais de domingo”. Aqui está a chave e a expressão inequívoca do desalento, do cansaço, da astenia. Este verso denuncia um poeta distante daquele que, num poema em homenagem a Craveirinha, a dado passo, escrevera: “chama-se Junho desde um dia de há muito com meia dúzia / de satanhocos moçambicanos todos poetas gizando/ a natureza e o chão no parnaso das balas”. Alusão não só à “primavera de balas” (Craveirinha), mas uma manifesta sagração do tempo que então vivíamos.
Se em “Monção” encontramos o lirismo amoroso, encontramos textos que aludem a um diálogo intertextual com outros poetas, numa linguagem que se distancia da voz colectiva e colectivizadora, sem, no entanto, se exonerar de apostrofar a realidade social – Patraquim é um poeta que assume uma intervenção social –, em “A Inadiável Viagem”, temos isso e muito mais: temos o amor, o corpo celebrado da mulher (“a dicção do teu corpo”); temos a evocação da infância (que encontramos em Fonseca Amaral ou Noémia de Sousa - eis um dos eixos temáticos da poesia moçambicana: “Rua de Lidemburgo”: “da infância refaço esta clave nua/ a fisga de a sorver tão perto/ as goiabas rubras trazidas ao riso/ deste fermento que ora traduzo/ porque espero e no chão incorruptível/ a ternura dos dedos entreteçam o sono/ à sombra de um sinal que apeteça/ e outra vez na falésia da noite/ a metamorfose da água permaneça”); temos, sobretudo, uma realidade disfórica, o manifesto ocaso da revolução, o desalento ineludível. E nisso o título e o livro assumem uma biografia poética e uma trajectória pessoal irrefutável. Luís Carlos Patraquim partiria para Portugal no ano a seguir à publicação deste livro, onde vive ainda hoje.
Luís Carlos Patraquim: “À uma hora da madrugada somos deus/ aos látegos sobre os perfis das casas/ das frontes latejando voos de extenuados/ pássaros e batemos no poema. Abram/ Já não morremos nas mãos brincando/ do menino com dois anos de idade. / Assassinou-se, para não ser homem nem deus,/ nem perguntas de voos augurando/ metafísicas inúteis na ascensão de domingo/ à uma hora da madrugada.”
Este poema é de uma grande violência lexical e imagética, um dos mais ásperos de toda a literatura moçambicana. Um poema que exprime, com contundência, os anos 80 e a derrocada do sonho moçambicano, assassinado como o menino de dois anos, num dos textos mais pungentes, lancinantes e comoventes da poesia moçambicana no século XX:
“Batemos. Abram os estádios magníficos/ de todos os orifícios. Cuspam-nos/ o fogo que mata. Abram! / À uma hora da madrugada, meu deus. / Tão poucos a Sul, limpos e longe/ do país dos hiperbóreos. Tão já sem nada/ e um largo coração de ideias/ apodrecendo nas virilhas cortadas. / Ao perdido arfar de nós que nos perdemos, / matrissuicidas de deus na lixeira/ com mabandidos vídeos estilizando-nos/ em eléctricas úlceras de arco-íris, / nós voltamos. Dêem-nos os pulmões candongados/ em Tsalala, os polanulantes espantos/ depois das praças em comícios/ de núpcias sobre a gengiva dos dias”.
É como se escrevesse nesta “Elegia Carnívora”, poema de uma mordacidade inaudita, o epitáfio de uma época, na qual a morte de Samora Machel, em 1986, tem um significado mais do que simbólico: o abismo por onde resvalaram todos os sonhos. A desesperança evidente, o desconsolo que vaticina a viagem. Uma espécie de presságio, pressentimento, profecia.
Corrobora nisso, nesse mau agoiro, o poema sobre os mutilados de guerra: “Sentam-se sob as acácias no asfalto roto/ os mutilados com cigarros de embalar. / Nenhum som os recorta/ e todos os sentidos foram amputados. / Nem para a tarde crescem frustrados. / Esperam. Que inconclusa forma/ os limita em fórmula de serração? / Que ameaça os delira? / Nenhuma flor/ explode, poeta, no coração? / Os mutilados sonharão? Suas pernas? / O desejo, fruto podre adubando. Outra mão? / Que triste palavra os baba / no cigarro morto! Vendem. / Nenhum incesto os estanca. / À revelia do sol, os mutilados/ montam banca.”
O Poeta escrevera: “agora vou com amendoins na língua ínsula” e ficaria com os pregões a reverberar na memória: “agora Amêjoé vestiu a rua dobrou a esquina”. Ficariam belos e comoventes poemas que se entretecem na sua biografia. Num poema dedicado a Gulamo Khan proclama: “Escrevo, não obstante, um país solar, / rouca a língua que soluça em sintagmas antigos”. “A memória é isto. / Mas já não elido”. Ou: “Depois das elegias o alcandorado grito / sobre o deserto chão do poema”. Provavelmente, a viagem será a grande metáfora da sua biografia. A sua viagem a Ítaca. Os seus mitos matriciais.
Há nesta poesia, eu me atreveria a dizer: neste poema em continuum (que é a sua obra toda) mitos recorrentes, ainda que se encontrem cartografados numa “sintaxe de sombras”. Um desses mitos, a Ilha de Moçambique. Muhípiti: “É onde todos somos inúteis”. Ilha de Próspero, Ilha de Caliban. Ilha de Alberto de Lacerda (“Ó Oriente surgido do mar / Ó minha Ilha de Moçambique / Perfume solto no oceano / Como se fosse em pleno ar”); Ilha de Rui Knopfli (“Ilha, velha ilha, metal remanchado, / minha paixão adolescente / que doloridas lembranças do tempo / em que, do alto do minarete, / Alah – o grande sacana! – sorria / aos tímidos versos bem comportados / que eu te fazia”); Ilha de Eduardo White (“Amo-te sem recusas e o meu amor é esta fortaleza, esta Ilha encantada, estas memórias sobre as paredes e ninguém sabe deste pangaio que a Norte e na Ilha traz um amante inconfortado”); Ilha dos Poetas, Ilha de todos: “Onde na noite a Ilha recolhe todos os istmos / e marulham as vozes”. “Ilha, corpo, mulher. Ilha encantamento. Primeiro tema para cantar” - Luís Carlos Patraquim.
Poesia de outras viagens, poesia de todas as viagens. Em Lisboa encontramo-lo “mariscando luas” na casa do pintor onde “os amigos entram pela janela / de luz na tarde atlântica”, ou no café Martinho de Arcada, evocando um poeta amigo. Poesia aliás habitada de afectos e de poetas, de poetas mortos como Rui de Noronha, Reinaldo Ferreira, José Craveirinha, Noémia de Sousa, Rui Nogar, Gabriel Makavi, Fonseca Amaral, Gulamo Khan, Leite de Vasconcelos, Grabato, Dias, Sebastião Alba, David Mestre, Guilherme Ismael. Afinal, conclama o Poeta: “Não tenho mais legitimidade do que a de todos os mortos”.
Ou como escreverá, muitos anos depois, em “O Deus Restante” (2017): “Aqui onde o Zambeze se afoga na estreita garganta / depois da sumptuosa queda de Deus”. Este livro como “Musica Extensa”, do mesmo ano, são poemas únicos. Poemas em que acena constantemente ao Índico. O Atlântico não lhe ilude o referencial: “O Índico é um mar interior”. Com as suas fúrias, alegorias e tragédias. Poeta atento ao seu país. Poeta, na sua “Morada Nómada”, que lhe colige a obra, continua afinal a mesma voz, a mesmíssima voz inicial: “rigorosamente viajo no tempo / e não sei / não sei se é canto ou ave / o que canto”, como principiara: “com palavras faço a voz”:
“é preciso inventar-te porque existes
enquanto os deuses adormecem nas páginas dos livros
e o real é a infinita medida do canto”
Hoje, ainda e sempre, é preciso sobretudo essa “insurrecta linguagem do mundo”, “é preciso a insurrecta solidão de alguns dias” e “é preciso tudo como haver morte e flores” porque, agora como sempre, “nascemos hoje demasiado e vivos”.
A poesia de Patraquim sempre soou estranha. Um timbre fora do contexto da poesia que era comum produzir-se e publicar. Vivíamos, é preciso sublinhar, os primórdios da independência e estávamos, muitos de nós, imbuídos daquele fervor messiânico e revolucionário. Poesia que será também um acto de rebeldia contra um universo concentracionário que se vivia.
A importância de Patraquim também advém daí, dessa rebeldia, que iria informar a minha geração. Por causa do seu estro, do seu talento, da sua exuberância poética, do esplendor da sua metáfora, da ideia de que a poesia é a metáfora, da sua oficina burilada, da sua extraordinária capacidade imagética, da explosão das suas vibrantes imagens, o reino das imagens, da sua voz de eleito. Da sua iconoclastia, eu diria, finalmente.
Nesse tempo, que aqui aludo melancolicamente, o Poeta exercia uma espécie de sacerdócio para a geração que iria despontar nos anos 80 e que desalinha, por completo, dos ditames da época. A “Gazeta de Artes e Letras”, que ele empreenderia, entre 1984 e 1986, a convite de Albino Magaia, na revista “Tempo”, foi o esteio necessário para a nossa contradita. Patraquim era uma espécie de Papa, nas nossas letras, à época. Para além do facto de não ser alheio à “Charrua” ou às tertúlias da Associação dos Escritores. Naqueles tempos fervorosos, hóspedes da Cindoca às sextas-feiras.
Era, paradoxalmente, um tempo exultante, reconheço-o a esta distância. Éramos felizes e, provavelmente, não sabíamos. Estávamos imersos no desencanto que começara, então, a cansar-nos, por culpa de um quotidiano ingeneroso. Era o tempo do monolitismo político, no qual empreendemos a discordância. Eu reputo esse dissídio, essa dissensão, esse confronto. (“Por isso senhor dá-nos a humilde loucura do sábado”). Era a nossa matéria-prima e a marca distintiva da nossa geração. Mas nunca nos exonerámos do “amor da terra”, como queria o Poeta.
Releio a obra toda de Luís Carlos Patraquim e revejo nela a sua biografia. Volto aos seus poemas, torno às suas viagens, revisito os seus mitos, reencontro as suas elegias, as suas citações, os seus acenos, a sua sintaxe, a sua gramática, a sua constância, a sua erudição. A sua permanente viagem. A sua incessante busca da Ítaca. Retorno ao seu estro, ao seu exímio estro, aos seus deuses e epifanias. Como sempre é um empreendimento jubiloso.
Termino este cumprimento, no dia dos seus 70 anos, dizendo-lhe aquilo que T.S. Eliot, um dos seus poetas electivos, que ele apostrofa num dos seus mais belos e acerbos poemas (“Elegia Carnívora”), disse, num aceno florentino – Dante Alighieri concedera a Guido Cavalcanti –, de e a Ezra Pound: “Il miglior fabbro”, na dedicatória de “A Terra Devastada”. Não tenho dúvidas de que o Poeta Luís Carlos Patraquim é, hoje, entre nós, o melhor artífice.
\Kampfumo, 26 de Março de 2023
Nelson Saute evoca Rui Nogar, 30 anos depois da morte do poeta

EU BEBEU SURUMA DOS TEUS ÓLHO ANA MARIA
XICUEMBO
eu bebeu suruma
dos teus ólho Ana Maria
eu bebeu suruma
e ficou mesmo maluco
agora eu quere dormir quere comer
mas não pode mais dormir
mas não pode mais comer
suruma dos teus ólho Ana Maria
matou socego no meu coração
oh matou socego no meu coração
eu bebeu suruma oh suruma suruma
dos teus ólho Ana Maria
com meu todo vontade
com meu todo coração
e agora Ana Maria minhamor
eu não pode mais viver
eu não pode mais saber
que meu Ana Maria minha amor
é mulher de todo gente
é mulher de todo gente
todo gente todo gente
menos meu minha amor
Rui Nogar
O Poeta Rui Nogar, um dos mais insignes nomes da poesia moçambicana, pseudónimo de Francisco Rui Moniz Barreto, nascido em Maputo a 2 de Fevereiro de 1932, morreu, aos 61 anos, a 11 de Março de 1993, em Lisboa, passam hoje 30 anos. Quase sempre esquecido, como estão esquecidos uma data de nomes e figuras importantes da nossa cultura, esta é uma daquelas personagens literárias por quem cultivo, sem tréguas, uma admiração reverencial, o que proclamo aqui sem nenhum rebuço. A minha geração muito lhe deve. Para além da circunstância de ter sido o primeiro secretário geral da AEMO e de ali ter albergado uma geração intrépida de escritores da nova geração, como seria a nossa, ele foi um dos mais exemplares escritores moçambicanos.
Numa vetusta entrevista a Luís Bernardo Honwana, que realizei quando intentava a busca da memória literária e cultural do nosso país, fiz algumas perguntas veementes, que se justificavam pela minha entusiasmada e impetuosa juventude. Duas delas: “Considera que há grandes poetas hoje em Moçambique?” A resposta do celebrado autor de “Nós Matámos o Cão Tinhoso” foi indubitável: “Sim”. A minha questão ulterior: “Quem são os grandes poetas moçambicanos?” Luís Bernardo Honwana seria assertivo: “Não gosto de citar nomes, mas há nomes óbvios: Craveirinha, Noémia, Rui Nogar”. Estávamos em 1990.
Continuo a concordar com Luís Bernardo Honwana, ele próprio um nome estelar da nossa literatura. Tenho para mim que o Rui Nogar foi um extraordinário poeta. Leia-se o seu livro “Silêncio Escancarado”, leia-se o seu belíssimo poema “Nove Hora” (que seria levado à cena pelo Mutumbela Gogo), leiam-se os seus poemas dispersos, entre os quais o aclamado “Xicuembo”, que encima esta prosa. Há ali uma sintaxe própria, há ali uma gramática pessoalíssima e há ali uma construção poética que denuncia, por assim dizer, um homem apaixonado pelos homens do seu tempo, um homem com causas, um homem com uma ética que faz da condição humana a matéria prima da sua poesia e da sua vida.
A vida difícil, o sofrido quotidiano, as desigualdades sociais e as iniquidades do sistema colonial, que ele abominava e contra as quais lutou acirrada e tenazmente sempre, fazem o lastro da sua escrita, da sua poesia, dos seus gestos, quase sempre arrojados, do seu grito visceral e da sua revolta enérgica. Cumpriu uma dura penitência na Cadeia da Machava, onde escreveu alguns dos seus mais emblemáticos poemas. Ali, também, denunciou o “silêncio”, que era, no fundo, a ausência de humanidade: “tratávamos o silêncio por tu / dormíamos na mesma cama / acordávamos do mesmo sono” – escreve em “Da fruição do silêncio”, um dos seus mais belos e pungentes poemas: “era o silêncio devorando o silêncio / era o silêncio copulando o silêncio / era o silêncio assassinando o silêncio”.
Ali “na líbida cegueira da avidez láctea” (note-se-lhe este verso extraordinário!), “um farrapo de música nos basta / para remendar / esta longa longa solidão”. No mesmo lugar “do silêncio às palavras”: “a vigília obrigatória / dos que se obrigam a vigiar-nos” e onde “o rastilho da razão / e a pólvora da ciência / nas celas da ignorância // e o escorpião do medo”. Ali mesmo, naquele lugar, “estes pirilampos de esperança”.
Da “Mensagem da Machava” avultam estes versos: “tudo ganhou novos ângulos novas luzes / é mais volátil é mais livre o voo das aves // (...) o amor é tão fácil como o sorriso das crianças / o amor é tão puro como o sémen das chamas /(...) e apesar das grades dos cães-polícias / sinto-me cada vez mais perto de vós”. Ou do poema “Pavilhão 7 Cela 20”: “à noite as almofadas / são mais duras e desconexas / o colchão regurgita / famintas maçarocas / mordendo-nos o sono / e a crosta dos pensamentos” (...) “e mosquitos minuto a minuto / mergulhando céleres / suas adagas no cerne da nossa angústia / despertam-nos o cosmos da impaciência”. Ou ainda do poema “As palavras dantigamente”: “as palavras / e sobretudo o silício do silêncio / dilacerando-nos as fontes de inspiração”. Isto é de um grande poeta. Isto é extraordinário.
Rui Nogar foi sobretudo um audacioso nacionalista. Era um poeta engajado. Isto não lhe diminuía, informava o alto sentido moral da sua existência e da sua práxis. Não estava interessado na sua imortalidade literária. Tinha assumido um combate, um combate feroz e fazia disso o viático da sua jornada. Era um homem indignado – um inconformado. Conhecia a tremenda realidade social para além da “fronteira do asfalto” (Luandino Vieira dixit). Era mítica a sua incursão pelos labirintos dos subúrbios ditos laurentinos. Glosando Craveirinha: Nogar não ia visitar os subúrbios, o Nogar era de lá, aquele era o seu mundo. Era, também, por isso, arreigadamente moçambicano.
A sua poesia não é apenas uma poesia de denúncia. Não é apenas uma poesia de protesto. É também, ou sobretudo, uma poesia que inventa a moçambicanidade, uma poesia de afirmação, de afirmação nacionalista, uma poesia que institui uma pátria, a nossa pátria - pátria moçambicana, muitas vezes aviltada nos dias de hoje. Há quem lhe aponte um tom panfletário nos seus poemas, principalmente os mais afeitos à recitação. Isso não me inibe de lhe extrair belas imagens, soberbas metáforas, um universo vocabular que enuncia um grande exegeta. Um esteta comprometido com os homens e as causas do seu tempo. Um dos maiores intérpretes da moçambicanidade.
Rui Nogar foi também um grande declamador. Aliás, um mítico declamador, que ousava desafiar as autoridades coloniais, ou os seus biltres, nos saraus, dizendo, provocatoriamente, poemas que denunciavam a situação. Fê-lo diante de pides disfarçados, numa Associação Africana apinhada de gente, com o poema de Carlos Maria (“Balada dos homens da caça”) que tinha como estribilho: “Venham todos os homens da caça / Venham todos / Tragam as azagaias”. Fê-lo apontando para os pulhas que estavam na primeira fila.
Seria preso nessa madrugada. Outros que recolheram aos calaboiços: José Craveirinha, Cacilda Reis, Luís Polanah. O tristemente célebre Roquete, safardana de má memória, torcionário de serviço, seria assertivo ao interrogá-lo: “Por que é que você anda com pretos?”
Rui Nogar pertenceu à 4ª Região Político-Militar da FRELIMO e teve um papel importante na luta clandestina. Uma das casas onde se reuniam era a casa de Armando Pedro Muiuiane. Numa das rusgas da Pide, em 1964, foram todos presos. Adrião Rodrigues, Santa Rita e Almeida Santos advogam a favor dos presos nacionalistas. Rui Baltazar não pôde defendê-los. Estava identificado com um dos reclusos: Albino Maeche. Foi impedido de o fazer. Os presos são ilibados, mas não foi por muito tempo. O julgamento seria repetido. A sentença viria firme de Lisboa: prisão maior.
Craveirinha, Honwana, Malangatana são seus companheiros de prisão. O “Silêncio Escancarado” é, seguramente, um testamento literário que escrutina esses tempos ominosos. Craveirinha fá-lo-á em “Cela 1”. Existe, aliás, uma correspondência mítica entre Luís Bernardo Honwana e José Craveirinha na prisão. Malangatana pintará, dessa dura experiência, os seus duendes, os seus demónios e as suas figuras fantasmagóricas.
Nos tempos ulteriores à Independência, Rui Nogar desempenhará os cargos de Director Nacional de Cultura e Director do Museu da Revolução, será deputado da Assembleia da República. Poeta consagrado, a edição da sua obra ocorre em 1982, num contexto de liberdade, na célebre colecção Autores Moçambicanos, do INLD. Será o primeiro secretário-geral da AEMO. Não escapou, porém, aos esbirros da revolução. Irá para Nampula cumprir uma ignominiosa reeducação. Muitos intelectuais sofreram essas purgas, os chamados excessos no jargão da política. Foi o paradoxo, a contradição, a ironia. Não senti acrimónia no Rui apesar disso. Como não sentira no Albino Magaia, que esteve no chamado Gulag moçambicano.
Em 1990 também o entrevistei e ele disse-me o seguinte: “Não me interessa que seja ou não considerado poeta. O que me interessa é que eu seja considerado homem que se preocupa com os outros homens da sua época”. Vi e vejo nesta afirmação a sua estatura moral e ética, a sua grandeza e nobreza. Aliás, recordo-me de muitas discussões que tínhamos, das nossas discordâncias amigáveis, calorosas sem serem necessariamente acerbas, sobretudo porque nós os mais novos não nos incumbíamos dos ditames da revolução. Antes pelo contrário. Estávamos, muitas vezes, nos seus antípodas. Estávamos sublevados.
O Rui dizia-me, entre outras coisas: se tivesse que escolher entre escrever sobre a flor e a luta ele daria primazia à luta. Dizia-o com a sua proverbial candura e não cerceava o nosso espaço de liberdade criativa e de crítica. Antes pelo contrário. Tinha abertura para o contraditório e levava o ideário da liberdade até às últimas consequências. Homem livre, não obstruía a liberdade dos outros. Não se ofendia com a objecção dos mais jovens, convivia bem com a nossa contradita, que era por vezes ácida. Politicamente afirmado, ideologicamente marcado, socialista intransigente, amava sobretudo a liberdade. Esta era também uma ética, a sua ética.
Hoje é deslembrado. Ao longo dos anos tem sido aludido em versos de poetas amigos que vão de José Craveirinha a Luís Carlos Patraquim. Mas não o lemos. “Ninguém liga peva aos poetas”, proclamava Eduardo White, um dos mais insurrectos da minha geração. Hoje muito menos. Tenho-me lembrado do Rui, amiúde. Por vezes, faço-lhe uma vênia na sua campa no Cemitério de Lhanguene e deixo-lhe uma rosa branca. Foi um amigo muito querido e tenho dele avultadas lembranças. No dia em que passam 30 anos sobre a data sua morte, quero aqui honrá-lo. Não cometo expectativas quanto à Pátria. Sei que nada farão para o homenagear. Assim são os nossos pressurosos intendentes, vivem solícita desmemória, são obstinados no esquecimento. Mas cabe a alguns de nós o ofício da memória. Aqui está um dos nossos grandes poetas. Um dos fundadores e esteios da nossa nacionalidade. Um homem probo, um excelente tribuno, um amigo e um camarada de ofício de saudosa memória.
RETRATO
mais do que poetas
hoje
somos sim guerrilheiros
com poemas emboscados
por entre a selva de sentimentos
em que nos vamos libertando
em cada palavra percutida
hoje
nós
em moçambique
1969
Rui Nogar
A LUTA CONTINUA!

O punho cerrado de Hugh Masekela enquanto cantava “Bring Him Back Home” (Nelson Mandela), num memorável espectáculo, em Harare, no Zimbabwe, a 14 de Fevereiro de 1987 – eu estava à beira dos 20 anos! –, povoa, de forma vívida, a minha memória, necessariamente nostálgica daquele tempo. O som pungente do seu trompete ainda esplende dento de mim e acorda nas minhas entranhas os deuses africanos. Passaram-se quase quatro décadas e eu me lembro daquele momento exuberantemente singular. As imagens aparecem esbatidas numa vetusta TVE, predecessora da TVM: Paul Simon apresentava “Graceland” e estava acompanhado de magos sul-africanos no Rufaro Stadium. Para quem não viveu os duros e exaltantes tempos em que enfrentámos o apartheid tudo isto não tem a mesma carga simbólica e até pode parecer uma frivolidade.
Miriam Makeba cantou “Soweto Blues”, a música que Hugh Masekela fizera para ela. Cantaria também “Under African Skies” ou “N´kosi Sikeleli Africa” (com todos). “Soweto Blues” foi a primeira música de Masekela que eu conheci, ainda nos tempos em que vivia na mítica Nacala, nos anos 70, na voz de Makeba. Hugh cantou “Bring Him Back Home” (Nelson Mandela) e “Stimela”, com aquela sua força telúrica. Ele era uma brutal força da natureza. Ray Phiri, outro deus morto, estava na viola solo. Estão os três mortos na planície. Como estão outros. Os deuses da minha adolescência lírica, feita de versos, canções, sonhos e futuros.
Hugh Masekela impressionou-me ali para sempre. Estava na companhia dos seguintes músicos sul-africanos: Ladysmith Black Mambazo, comandados pelo carismático Joseph Shabalala, outro deus estirado na planície. Estavam ainda: John Selowane na guitarra, Bakithi Khumalo no baixo, Barney Rachabane no saxofone, entre outros, para além Nomsa Caluza e Sonti Mndebele, que faziam os coros. As duas grandes figuras, para além de Paul Simon, naquele palco e naquela tarde, foram, indubitavelmente, Miriam Makeba e Hugh Masekela.
Os dois eram, à época, expoentes da música sul-africana e activistas intrépidos na luta contra o apartheid. O seu apoio ao projecto de Paul Simon, que desagradou a cúpula do ANC, foi importante. Deles e de Ray Phiri e todos outros. Aquilo que fizeram como contributo na luta pela erradicação do regime do apartheid está por reconhecer. No meu entender, foi um contributo decisivo. Romperam barreiras, deram visibilidade a uma luta, foram a extensão da voz de Nelson Mandela, que estava encarcerado.
A importância de ambos não se pode aurir no facto de terem estado naquele palco, naquele dia e naquela tarde. Mas ali se pode dizer da poderosa metáfora daquela luta e de todas as vezes e de todos os palcos.
Há uma fotografia celebérrima de Peter Magubane, um deus sul-africano, hoje nonagenário, que mostra um punho cerrado. Foi a grande alegoria da luta. Não sei se naquele plano e naquele momento, Hugh Masekeka fazia o paralelo com essa imagem poderosíssima do mítico fotógrafo, outro combatente contra o apartheid, mas a sua voz poderosa, o seu trompete singularíssimo e aquele seu gesto enfático, mesmo depois de estes anos todos, ainda me deixam exultado.
Masekela usava ainda o cabelo grande e tinha, como sempre teve, aqueles olhos impressivos e esbugalhados. Tinha, à época, 48 anos, contava quase 30 anos de exílio, combatia intransigentemente nos palcos do mundo. Vê-lo cantar “Stimela”, com aquela força da natureza, com aquela energia, fez dele um dos músicos sul-africanos que eu haveria de cultuar para sempre. Eu nunca vira algo igual. Era extraordinário. Era libertador. Era exultante. Era poderoso. Era vigoroso. Era potente. Era veemente.
Aquele espectáculo de Paul Simon foi um marco na minha vida. Aquele disco de Paul Simon foi um acontecimento para mim. Para aqueles que sonhavam com a liberdade dos sul-africanos. Para aquele que pugnavam por uma África do Sul igual para todos. Decerto, aquele momento prenunciava um novo tempo e estava inscrito nele a esperança do porvir. Nós vivíamos na ânsia de ver Nelson Mandela liberto e “Graceland” e a incursão de Simon pela música sul-africana e com os músicos sul-africanos parecia um sinal inequívoco de que algo iria acontecer. Algo estava para acontecer. Isso só viria a suceder nos primórdios da década ulterior.
Oiço agora, como sempre, Hugh Masekela cantar: “There is a train comes from Namibia and Malawi/ there is a train that comes from Zambia and Zimbabwe. / There is a train that comes from Angola and Mozambique. / From Lesotho, from Botswana, from Swaziland. / From all the hinterland of Southern and Central Africa. / This train carries young and old, African men/ Who are conscripted to come and work on contract/ in the golden mineral mines of Johannesburg/ And its surrounding metropolis, sixteen hours or more a day / For almost no pay. / Deep, deep, deep down in the belly of the earth”. Deep! Deep! Deep!
A letra e a música têm uma força e a interpretação de Hugh Masekela é inesquecível. As várias interpretações, digo. Há pouco vi uma que ele fez em Lugano. Mas há várias nos vários palcos do mundo. Ele cantou esta música não sei quantas vezes, e sempre com uma energia, um alento, um dinamismo e um arrojo. Cantou-a, por assim dizer, até ao fim. A sua fibra, a sua vivacidade, a sua força moral, intelectual e política.
Era a música da sua causa maior: a luta contra a injustiça. Para além de a cantar, era seu hábito fazer um discurso sobre os explorados, sobre os espoliados, sobre os oprimidos, sobre a liberdade, o valor da liberdade, sobre os mártires, sobre os que tinham morrido nas minas ou na luta. O seu trompete vibrava em nós. Continua a vibrar em nós.
Vi-o cantar, mais tarde, em diversos lugares. Vi-o em Maputo, vi-o na Cidade do Cabo e em Joanesburgo. A última vez que o vi tocar e cantar foi no Kippies – assim se chama o palco em homenagem a Kippie Moeketsi no festival de jazz da Cidade do Cabo -, com a sala completamente cheia a cantar e a dançar numa explosão de alegria que não sei descrever. Masekela fazia uma extraordinária homenagem a Miriam Makeba, sua companheira de vida e de luta. Mas vi-o sobretudo naquele 14 de Fevereiro na minha vetusta TVE. Continuo a vê-lo nos meus dias. Continuo a ouvi-lo por estes dias aziagos. Continuo a encontrar nele o alento e o estímulo. A esperança. O tónico para estes dias ominosos. O lenitivo de que preciso.
Hoje, de 23 de Janeiro, passam 5 anos sobre a sua morte e volto a ouvi-lo. Oiço obsessivamente “Stimela”: a sua força, a telúrica força desta música, da sua música, que releva da fusão de vários ritmos, sobretudo da música dominante das townships da África do Sul, como mbhaqanga, marabi, jit e kwela, numa alquimia com o jazz, voltam à minha memória e vibram.
Ontem, por alguma razão que não sei explicar, pus-me a ouvir Brenda Fassie e a ver as imagens de Nelson Mandela e do seu milagre da nação arco-íris. Começara, por algum sortilégio, por rever as imagens lancinantes dos funerais de Samora, que são o ocaso de uma época e que se inscrevem nesta mitologia da libertação dos sul-africanos. Hoje retorno a Harare, a Hugh Masekela, a Miriam Makeba, a Joseph Shabalala e os seus companheiros, a Ray Phiri, a Paul Simon. Oiço, de novo, “Stimela”.
No alinhamento daquele memorável espectáculo: “Township Jive”, “The Boy in the Bubble”, “Gumboots”, “Whispering Bells”, “Bring Him Back Home”, “Crazy Love”, “I Know What I Know”, “Jinkel e Maweni”, “Soweto Blues”, “Under African Skies”, “Unomathemba”, “Hello My Baby”, “Homeless”, “Graceland”, “You Can Call Me Al”, “Stimela”, “Diamonds On The Soles of Her shoes”, “N´Kosi Sikeleli Africa” e “King of Kings”. Ali não se celebrava apenas o futuro inequívoco da África do Sul. Ali celebrava-se um tempo, que nos era comum e solidário, um tempo de uma história comum, de uma luta colectiva, de ideários partilhados, de sacrifícios que tínhamos consentido e compartilhado, de um destino igualmente comum e inexpugnável.
Hoje tudo isso está perdido. Quando me volto para estes tempos e oiço estes músicos libertários, quando me empolgo com estes hinos emancipatórios, quando exulto com estas vozes e estes ritmos vibrantes, falo de uma época, falo de um contexto, falo de uma História. Hoje estamos nos antípodas dessa História, desse contexto e dessa época. Hoje é difícil explicar o punho cerrado de Hugh Masekela, o seu poder simbólico e encantatório, a sua força mobilizadora e empolgante. Hoje é difícil explicar que descíamos às praças para que Nelson Mandela fosse livre e que a África do Sul não fosse o lugar da segregação racial. Hoje é difícil explicar que a luta dos sul-africanos era a nossa luta e que hipotecamos muito do nosso futuro quando nos engajamos – eis um termo do vocabulário da época – nessa luta.
Oiço “Sitmela”, oiço sobretudo o disco “Hope” (1994), com o seu vigor metafórico indesmentível, oiço Hugh Masekela, a sua voz robusta e a pujança do seu trompete e não temo em assumir-me como um nostálgico de um tempo em que havia grandeza nos propósitos, havia ideários, havia lideranças e um futuro por cumprir. Havia lutas por fazer. É isso, não tenho pejo em dizê-lo, que o punho cerrado e a voz potente de Hugh Masekela, enquanto canta “Bring Him Back Home” (Nelson Mandela), ainda hoje acordam em mim.
A LUTA CONTINUA!
KaMpfumo, 23 de Janeiro de 2023
FERNANDO MANUEL, 70 ANOS, escreve Nelson Saúte

Diluídos no escuro
os coqueiros, elegantes silhuetas
projectam-se contra o profundo
azul do céu
O macúti balança
sufocando o riso
num sussurro amigo
sob o peso da leve,
levíssima brisa do mar
Ao longe
filtrada pelo silêncio
a voz de Brenda Fassie
dando vida ao Galaxi, lembrança do John
Colados ao caniço
os homens eternizam
o culto da sura.
Fernando Manuel
Este poema, intitulado “Matsitsi”, de Fernando Manuel, tem indesmentíveis referenciais do lugar de origem: Maxixe, onde o autor nasceu a 20 de Janeiro de 1953, há precisamente 70 anos.
Muitos vezes quando atravesso aquela paisagem cartografada poeticamente nestes versos, lembro-me deste seu belo texto, que povoa o meu imaginário há anos. Conhecido como jornalista – hoje em dia como cronista sobretudo – ele é, no entanto, um poeta de créditos indubitáveis e um dos mais interessantes contistas moçambicanos.
Para além da data e do lugar de nascimento, as parcas notas biográficas sobre Fernando Manuel dizem-nos que ele iniciou os estudos na Missão Sagrada Família e que os completou da escola Indígena da Munhuana. Eu estudei na escola primária do Bairro Indígena, aliás foi lá por onde comecei e esta coincidência é-me particularmente cara. Mais tarde, Fernando Manuel frequentaria os liceus António Enes e Salazar, que são hoje - para o nosso gáudio - Francisco Manyanga e Josina Machel.
Narram ainda as suas breves efemérides que antes de ingressar, em 1981, na carreira jornalística, haveria de ser monitor de educação física, músico, escriturário, professor de História no ensino secundário. A esta distância talvez eu possa especular: a sua entrada tardia no mundo do jornalismo permitiu-lhe fazê-lo com uma bagagem que lhe seria útil e o catapultaria, em poucos anos, para um dos lugares cimeiros entre os camaradas de ofício.
Quando entrei, aos 21 anos, para a redação da TEMPO, em 1988, Fernando Manuel era o jornalista mais importante daquela mítica revista. Chefiara a reportagem pouco antes. Era um dos gurus da publicação. Provavelmente, o Kok Nam fosse a sua figura mais emblemática, oriundo da tribo dos fundadores. A TEMPO, é preciso dizê-lo, foi a tribuna de grandes nomes do nosso jornalismo. Miúdo ainda, quando eu frequentava a Maxaquene, passava diante do prédio quotidianamente a caminho da escola. Olhava para o edifício como quem olha para um santuário. Esperava ser um dia um dos seus membros. Quando lá cheguei, a redacção gabava o talento do Fernando Manuel. Já não estavam Alves Gomes, Arlindo Lopes, Augusto Casimiro, Hilário Matusse, Joaquim Salvador ou Mia Couto - isto para falar de nomes que me eram próximos. Estava ainda a Ofélia Tembe antes de atalhar pelos meandros da diplomacia.
O semanário tinha como director o grande jornalista Albino Magaia (Mia Couto fora antes director e no seu tempo tivera Magaia como chefe de redacção) e Luís David era o chefe de redacção. David era um chefe que lembrava as lendas que comandavam, com mão firme, os jornalistas e as redacções. Hoje os vocativos são outros. No meu tempo, um chefe de redacção era a figura mais temida. No caso, ele subscrevia o mito: devolvia os textos quando estes eram medíocres. Por outro lado, Albino Magaia tinha aquela adorável característica de ser assertivo com um sorriso que lhe ampliava os zigomas do rosto. Os dois faziam um belíssimo contraponto. Foi sob a batuta de ambos e tendo o Fernando Manuel e o Kok Nam como as grandes referências que vivi ali tempos jubilosos. O Kok contava histórias hilariantes dos tempos imemoriais da casa. Daria um belo filme a história desta revista e das gerações de jornalistas e histórias que a glorificaram.
Companheiros de redacção: Roberto Uaene, António Elias, Casimiro Sengo, Fernando Victorino, Celestino Jorge, Paulo Sérgio, entre outros. O Castigo Zita, que encontraria o infortúnio da morte numas férias em Harare, em Dezembro de 1988, aos 27 anos, era assíduo frequentador da mesma. Fazíamos uma pequena tertúlia literária no fundo da redacção. O Celestino participava com aquela sua elusiva presença. Fotógrafos: Kok Nam, Naíta Ussene, Alberto Muianga, Jaime Macamo e Jorge Tomé. Muitas destas personagens já não estão no reino dos vivos. O Eugénio Aldasse (outro que emigrou para o Paraíso) e o Sérgio Tique (brilhante caricaturista e que tinha a qualidade superlativa de zombar de todos e de tudo) faziam a maquetização. A saudosa Ana Cubasse era a nossa revisora e enchia aquelas acanhadas salas com a sua soberba e estridente presença. Foi outro tempo aquele, com outras personagens, que estão nos armoriais do nosso jornalismo.
Falo-vos de um tempo em que redigíamos notícias e reportagens em velhas máquinas manuais cujos sons ressoavam daquele sexto andar. Era o tempo das laudas e da composição a chumbo. Também era um tempo em que tudo parecia que estava a desmoronar, a desagregar-se. Tinha acontecido Mbuzine e o prenúncio do fim da I República. Os anos 80 foram extenuantes. Estávamos exaustos das crises cíclicas e do panorama em que tudo nos faltava. Começava a exercer-se sobre nós o cansaço, a desesperança, a descrença e o medo do futuro.
Para mim foram tempos paradoxais – exultantes e esgotantes. Foram dois anos igualmente fugazes, os mais belos anos da minha vida no jornalismo em Moçambique. Intensos e jubilosos.
Pouco depois, quase todos saímos da TEMPO. Nos finais daquela década os jornalistas impuseram a liberdade e a democracia através de uma nova Lei de Imprensa. Nos primórdios dos anos 90 o debate e a nova Constituição permitiram que houvesse outros atalhos. A guerra e a paz, o multipartidarismo e a abertura que se experimentaram estiveram na base do início de um novo caminho para o jornalismo. Entretanto, Albino Magaia foi substituído e o declínio da publicação tornou-se irrefutável. Fernando Manuel estaria no escol dos jornalistas que iriam ser os pioneiros do jornalismo privado.
Carlos Cardoso falou-me desse belo projeto: um grupo de jornalistas que resolvia desfazer-se das amarras que tinham no sector estatal e fundava uma cooperativa da qual sairiam as publicações independentes. Politicamente independentes. Kok, Naíta, entre outros, estarão nesse grupo. Creio que foi um acto de grande coragem. Foi quando fui estudar para fora do país.
Não tenho dúvidas de que foi um tempo exultante para o nosso jornalismo, um tempo de mudanças, algumas delas radicais. Esse tempo e o papel dos jornalistas merece estudo e atenção.
Eu aprendi imenso na TEMPO e com aquela nobre gente. Ouvindo-os, contando histórias, muitas vezes tremendas histórias do nosso quotidiano, algumas que atravessavam as colunas da publicação que saía à sexta-feira e que as lia com um sofrido e indisfarçável prazer. A ideia da sociedade, da nossa sociedade, obtive-a ali. Preocupado com as cousas literárias, aprendi a amar o social através daqueles meus brilhantes colegas. Algumas das reportagens eram devastadoras. Lembro uma sobre o Ile que nunca me abandonou. Tínhamos experimentado como país um grau de miséria material e moral sem igual. A guerra no seu esplendor fazia de nós o exemplo (parece paradoxal usar este termo) entre os piores do mundo.
O Fernando Manuel não era apenas jornalista, era também escritor, um bom poeta e contista imaginativo. Não tenho duvidas de que era uma das melhores plumas do nosso jornalismo. A sua pena é de alto coturno e as suas prosas eram impecavelmente bem escritas. Valeria a pena, sobretudo os que debutam na profissão, frequentar os sepulcros e ler aquelas prosas exemplares.
Muita da sua saborosa prosa está reunida em dois dos seus livros de crónicas: “Chá das Sextas” e “Missa Pagã”. A crónica literária foi um género com cultores prestigiadíssimos entre nós. Cito alguns desta linhagem: Areosa Pena, Leite de Vasconcelos, Albino Magaia, Mia Couto e por aí em diante. É um género que, como se sabe, está na fronteira entre a literatura e o jornalismo. Fernando Manuel é tributário dessa nossa nobre tradição.
Felizmente temo-lo lido nas páginas do “Savana”. Para além disso, é autor de um livro de contos, “O Homem Sugerido” e redigiu alguns prefácios a obras de escritores da sua geração – do remoto “Xitala Mati”, do Aldino Muianga, em 1987, é caso paradigmático. Fernando Manuel tem uma língua afiada, por vezes mordaz, finamente mordaz, e é dono de um olhar subtilmente assertivo e subversivo. É um contador de histórias nato, quer sejam histórias que relevam das origens ou aquelas que se inscrevem nos labirintos e na mitologia dos subúrbios em que ele cresceu ou da sua cidade onde se afirmaria e que a viu mudar com todos os seus paradoxos, todas as suas misérias, toda a sua grandeza. Podemos até estar nos antípodas do que pensa, não temos que concordar, mas temos que conceder que estamos diante de uma escrita distinta. Respeito-o por isso. Aliás, demonizou-se entre nós a democrática e saudável divergência, a critica social, a consciência da diferença. Aquela sociedade plural e magnânima que intuíamos nos anos 90 está por cumprir, por assim dizer.
Quando há precisamente 30 anos, Fátima Mendonça e eu, organizamos uma antologia da nova poesia moçambicana, ele foi um dos nomes indubitáveis. Um dos poemas, quase um aforismo, intitulado “Sobre a felicidade” dizia estes três versos: “E pensar / que há gente / que me pensa feliz”. Não me ocorreu este poema quando li, há 5 anos, no semanário “Magazine”, uma entrevista sombria com o Fernando Manuel.
Era uma entrevista de um homem lúcido, acerbo e, fatalmente, desiludido. Dois anos antes ele ficara cego. Fazia uma análise cortante dos nossos dias e do nosso percurso. Não é incomum encontrar na tribo (na melhor acepção do termo) quem esteja desencantado. Sobretudo entre os que estão na profissão há décadas. Os tempos que vivemos, muitas vezes aziagos, tornaram proscritos muitos destes grandes profissionais. E para isso não é necessário exilá-los. Basta o descaso.
Não obstante, Fernando Manuel continua a publicar - para a nossa felicidade e digo isto compungido – as suas crónicas. Dita-as e quem as lê coteja a mesma escrita escorreita que ele nos habituou. Tinha antes lido uma entrevista na qual ele falava dessa experiência, dessa dura experiência da cegueira, mas neste depoimento senti não só essa dureza, mas uma profunda e lancinante tristeza.
Não queria terminar esta breve evocação com um travo amargo. Hoje é um dia de júbilo para o nosso jornalismo e para a nossa literatura. Quero celebrá-lo com parte dos seus melhores versos. Socorro-me, assim, em sua homenagem, destes outros versos, no caso do poema “Ma ensai”, igualmente belo, para encerrar este depoimento.
À noite
ouço Otis Redding
falando I´ve got dreams
de tardes de madeira e zinco
esfregando-se por entre o caniço
Tardes de corpos suados
Plásticos na apetência oculta
que fervilha debaixo da pele, to remembre
Anoitecer de salas fumegantes
de candeeiros a petróleo
luz que se escoa
mergulhado aquele beco sem saída
numa escuridão fru fru
saia que já não esconde
o leve tremor da coxa
antes abrigada
E beijei o silêncio
dos lábios da Guida.
Fernando Manuel
Poeta, contista, cronista, uma das plumas mais esplendentes do nosso jornalismo e da nossa literatura, autor de algumas das mais belas páginas que, em épocas distintas, se redigiram na “Tempo” ou no “Savana”, comemora, neste dia 20 de Janeiro de 2023, 70 anos de vida. Aqui lhe deixo o meu humilde preito.
FERNANDO COUTO

“Elegância devia ser o teu nome
ou mesmo graça e harmonia
ou ainda leveza, etérea leveza.”
Fernando Couto
Convivi inicialmente com o poeta Fernando Couto quando entrei para a Escola de Jornalismo em 1987, que ele dirigia, com a ajuda da mulher, Maria de Jesus, ambos de grata memória, pela excepcional e afetuosa forma como nos acolheram e nos trataram. Fernando era acanhado quanto aos afectos, Maria de Jesus era explosiva e arrebatadora na afeição. Muitos de nós éramos miúdos e encontrávamos neles um verdadeiro arrimo. Um ano depois, no rescaldo de uma vivência de 35 anos em Moçambique – onde vivera grande parte da sua vida, tivera filhos e escrevera livros –, ele despedia-se do país. Foi motivo para que eu realizasse uma longa e, talvez, uma das primeiras entrevistas literárias de que me lembro na minha vida.
No intervalo das aulas, muitas vezes, eu ia ao gabinete do Fernando e ficávamos horas a fio a conversar sobre o ofício da poesia. Sobre os poetas e o sobre o seu destino. Quando em Maio de 1988 fui entrevistá-lo eu tinha lido quase tudo o que ele até então publicara e seguira algumas das suas sugestões de leitura. Fernando era um grande leitor de poesia. Hoje, quando passam 10 anos sobre o seu desaparecimento, quero aqui evocá-lo.
Fernando Couto chegara à Beira em 1953 e fora na Beira, em 1959, que se estreara com o livro “Poemas junto à fronteira”. Nesse mesmo ano, Rui Knopfli publicara “O País dos Outros”, também livro de estreia. Couto haveria de editar à altura dessa memorável entrevista, sucessivamente: “Jangada do Inconformismo” (1962), “Amor Diurno” (1962), “Feições para um Retrato” (1971). Nas muitas conversas que tínhamos era frequente falarmos de Eugénio de Andrade, um poeta que povoou a minha juventude, e que era um dos poetas portugueses que ele mais admirava e o haviam influenciado. Era dos seus autores electivos. Aliás, não esqueço nunca estes versos de Eugénio de Andrade – no dia 19 de Janeiro assinala-se o centenário de seu nascimento - que eram igualmente caros ao Fernando Couto:
“Estou de passagem: / amo o efémero”.
Da lavra de poetas portugueses que o tinham entusiasmado poderia incluir Antero ou Pessoa. O Fernando era de uma grande erudição, embora não fizesse gala nisso, nem a exibisse. Paul Éluard era a grande influência dos poetas franceses que ele sofrera, a par de Louis Aragon ou Supervielle (Jules Supervielle, poeta francês nascido no Uruguai, que eu não ouvira falar até à data). Mas havia muitos, muitos poetas que ele admirava, que ele lia, que ele admirava e alguns tantos que ele traduzia. E ele os traduzia primorosamente.
Naqueles anos em que a revolução catapultava todos os entusiasmos e estava na origem de muitos equívocos – como definir funções iminentemente patriotas para a poesia – ele ensinou-me que esta (a poesia) deveria dar livre curso à experiência mais profunda do ser humano. E disse-me algo que até me deixou estupefacto: “os poetas são loucos”. A poesia para ele resultava desse ímpeto interior, dessa necessidade de dar voz ao mais profundo do ser humano, muitas vezes às cegas e de forma imperiosa, impetuosa posso eu acrescentar agora. A poesia era algo que vinha do mais arraigado do seu ser.
Disse-me o Fernando Couto e eu anotei: “Acredito, como Maomé, que os poetas são loucos, que fazem e escrevem loucuras e andam por caminhos ínvios como cegos”. Eu o interrogava e o ouvia com profunda admiração. Ele falava-me como se me segredasse o mundo. Por vezes, sussurrava.
Falámos longamente da Beira onde coordenou um suplemento literário do “Diário de Moçambique” e onde foi, com Nuno Bermudes, impulsionador das coleções Prosadores e Poetas de Moçambique, levadas a cabo no “Notícias da Beira”. Foi uma actividade importante. Os livros de poesia eram de uma grande beleza. Editou poetas como Glória de Sant´Anna (“Poemas do Tempo Agreste”) ou Rui Knopfli (“Máquina de Areia”). Pertenceu ao grupo que criou o Cine-Clube da Beira, participou da criação do auditório-galeria da cidade, onde se realizavam exposições, recitais, conferências, na emissora do Aeroclube tinha dois programas semanais, um deles com o nome de “Luar da Terra”, título que pilhara a André Breton.
Mas também quis saber da sua vida como tradutor. Ele chamava-lhe vício. Traduzira, entre outros livros, o mítico “Rubayyat”, do poeta Omar Khayyam (1048-1131), que o Luís Carlos Patraquim me dera a ler, em 1985. Disse-me Fernando Couto que amava e admirava este poeta persa que se rebelou contra o Islamismo, adoptando um hedonismo que poderia dever muito aos poetas e filósofos gregos, mas também aos poetas e filósofos árabes pré-islâmicos. Deleitara-se a traduzir aquela poesia que é um cântico de amor à vida, lúcido, desiludido, amoroso, sensual e delicado. E, todavia, há quem pretenderia tomar “Rubayyat” como expressão do amor divino, quando, a seu ver, era exactamente o amor carnal e a sensualidade que o poeta persa celebrava.
Naqueles anos tentávamos atalhar um caminho da poesia lírica, do amor, da sensualidade, que estava nos antípodas do que fora o excurso poético moçambicano desde os primórdios da independência até então. Claro que havia excepções – Luís Carlos Patraquim (“Monção”) ou Mia Couto (“Raiz de Orvalho”), a meu ver, são paradigmas dessa excepcionalidade –, mas o tom geral e os ditames eram esses. Ouvi-lo discorrer assim era uma espécie de lenitivo. Senti que Fernando Couto, de algum modo, dava-me os argumentos que sustentavam a via que nós, com alguma rebeldia, intentávamos. A esta distância, isto parecerá uma frivolidade, mas à época, o lugar da poesia chamada de combate, ou engajada, ou mesmo revolucionária, o lugar dessa poesia digo, era inequivocamente decisiva. Sendo que nós, alguns de nós, víamos na poesia lírica ou intimista, o percurso que queríamos fazer e, assim, estávamos a libertar-nos de um anátema. Um pesado anátema.
Para mim, aquela conversa com o poeta Fernando Couto teve o condão de me animar, ainda mais, a prosseguir esse caminho. Aliás, Fernando Couto, que também coordenara, anos mais tarde, no “Notícias”, em Maputo, um outro suplemento literário, era um homem que prezava a exigência e a qualidade artística, por assim dizer, da expressão literária e não se deixava amarrar aos ditames da revolução. Era um exegeta. Nas páginas daquele diário ele publicou, entre outros, dois jovens promissores que morreram precocemente: Isaac Zita (1961-1983) e Brian Tio Ninguas (1961-1987).
Isaac Zita foi a primeira grande revelação na ficção no pós-independência. Morreu com apenas 22 anos quando frequentava a Faculdade de Educação. Nascido em 1961, publicou contos no “Notícias” e na revista Tempo (por iniciativa de Albino Magaia, que escreveu um esplêndido prefácio, anos depois, ao seu livro póstumo “Os Molwenes”). Morreu em 1983. Em Maputo, na zona da Sommerschield, há uma rua, com o seu nome.
Fernando Couto: “O Isaac Zita possuía um sentido de contista que considerei e considero espantoso, incomparável por se tratar de um jovem proveniente do ensino técnico, tão tímido quanto modesto, tão inexperiente da vida, tão quedado dos ambientes ditos culturais!”.
Brian Tio Ninguas, pseudónimo do jornalista Baltazar Maninguane, pertencia ao quadro do “Notícias” quando morreu prematuramente em 1987. Permanece inédito, há poemas seus publicados por Manuel Ferreira na revista “África” e está antologiado em Moçambique.
Este era o Fernando Couto que se revelava de corpo inteiro naquela ocasião. 35 anos depois de Moçambique ele retornava à Portugal. Não foi por muito tempo, felizmente. Em meados dos anos 90, Mia Couto, Manuela Soeiro (do Mutumbela Gogo), Ricardo Timane (perecido, infelizmente) e eu, formamos uma sociedade editorial que se associou à Caminho – a Ndjira. O Fernando regressara de Portugal e juntou-se-nos ao projecto. Quando foi preciso encontrar um editor a tempo inteiro, ali estava ele com toda a sua generosidade, a sua imensa cultura e o seu avisado saber.
Tive o prazer de lá editar, sob a sua responsabilidade, anos mais tarde, um livro de poesia, “A Viagem Profana”, título que ele dizia apreciar bastante. Um editor atento e dedicado. Um homem interessado pelo trabalho dos outros. Eu via nisso uma grande generosidade. Ele haveria, no entanto, de acrescentar à sua estante de autor: “Monódia” (1997) e “Os Olhos Deslumbrados” (2001).
A 10 de Janeiro de 2013, Fernando Couto apartou-se deste mundo. Tinha 88 anos. Não sei se o celebraram agora por esta efeméride. Felizmente, os seus filhos criaram, em Maputo, a Fundação Fernando Leite Couto, que honra a sua memória e está na origem de uma importante actividade cultural e cívica na cidade. Quanto a mim, guardo-o ciosamente na memória, sobretudo pelas conversas quase secretas e subversivas que tivemos, primeiro na Escola de Jornalismo, nos longínquos anos 80, mais tarde na Ndjira, ou noutros convívios literários, nas quais muito aprendi do ofício e da loucura de ser poeta.
O Fernando Couto era um homem de uma grande elegância, de uma incomensurável sabedoria e de uma humildade extrema. Não tinha soberba. Era um homem que amava poetas e partilhava esse amor ineludível pela poesia e pela vida. Era, eu diria até, de uma grande humanidade. Viveu até ao fim fitando a vida com “os olhos deslumbrados”. Também aprendi com ele a deslumbrar-me com os “milagres da vida”, como ele queria neste belíssimo poema:
São estes ainda,
os olhos da infância,
deslumbrados,
deslumbrando-se
aos milagres da vida:
a intacta pureza das crianças,
os luminosos rostos femininos,
a limpidez das nascentes,
os cambiantes do fogo...
tudo, tudo quanto é beleza
ou lhe deslumbram beleza
os olhos deslumbrados.
(Fernando Couto)
Cidade do Cabo, 12 de Janeiro de 2023
FONSECA AMARAL

No dia 5 de Janeiro de 1993, passam hoje 30 anos, Noémia de Sousa ligou-me, com voz embargada, a dar-me a notícia da morte, em Queluz, do poeta moçambicano Fonseca Amaral. Eu vivia, à época, em Lisboa, e não era incomum encontrar-me com Noémia de Sousa, Rui Knopfli, Eugénio Lisboa, Fonseca Amaral ou Ruy Guerra. Aliás, uma vez chamei atenção do Ruy para o facto de ele ser vizinho do Knopfli e da Noémia, seus companheiros de adolescência, nos anos em que o cineasta viveu em Lisboa. A última vez que vi o Fonseca Amaral foi numa tertúlia em casa do Lisboa, em finais de 1992. Estavam todos esses nomes ínclitos da nossa literatura, à excepção de Guerra.
A primeira vez que ouvi falar do Fonseca Amaral foi num texto evocativo do Rui Knopfli, no caderno de poesia “Caliban”, número 2, de novembro de 1971, que ele fazia editar, na companhia do poeta Grabato Dias. Escrevera o autor das “Mangas Verdes com Sal”: “Fonseca Amaral é, por direito e mérito próprios, um dos nomes mais altos e representativos da Poesia em Moçambique e, simultaneamente, por desleixo ou abulia, um dos menos conhecidos e apregoados, espécie de grande ausente nos vários certames em que vamos acrescentando pátina às nossas acanhadas glórias caseiras.” Assim começavam as “Notas para a recordação do meu mestre Fonseca Amaral”, nas quais se acrescentava: “Tímido, reservado, inseguro de si próprio, que não da sua poesia, membro daquela família de criadores que, cumprindo-se embora, se apagam e auto-anulam não se sabe bem porque estranhos caprichos da vontade, é o poeta em larga medida responsável pela pouca, ou nenhuma, divulgação de uma obra merecedora da mais vasta audiência”.
A geração que desponta para a literatura nos anos ulteriores à II Grande Guerra muito lhe deve. Esta geração (à falta de melhor termo, di-lo Knopfli) incluía José Craveirinha, Noémia de Sousa, Ruy Guerra (e Rui Guedes da Silva, Rui Nogar e o pintor António Bronze e o próprio autor daquela homenagem.
Todos me falavam do Fonseca Amaral. Todos diziam bem do Fonseca Amaral. O Craveirinha, a Noémia, todos. Em Janeiro de 1990, munido de um gravador e um bloco de notas, levado pela mão do meu amigo Álvaro Belo Marques, fui bater-lhe a porta. Sabia que era um homem de certo modo sibilino, esquivo, tímido.
A conversa que mantive com ele foi espantosamente agradável. Emocionante até, eu diria. Nascido em Viseu, em 1928, João da Costa Fonseca Amaral fora para Moçambique com apenas três anos de idade. A sua infância – e por aí iniciamos a nossa conversa – fora passada no Xipamanine, nas terras do “Ka Amaral” (seu avô) –, com amigos negros com quem falava Ronga. Também tinha amigos de outras origens e que se misturavam naquelas periferias: muçulmanos, indianos, chineses. Passará pelo Chamanculo e, depois, a ascensão social levá-lo-á ao Alto-Maé, ao Bairro Central e à Polana. Na adolescência foi vizinho do Eugénio Lisboa, que irá, muitos anos mais tarde, prefaciar o livro “Poemas”, editado postumamente em 1999, pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda.
Falámos da infância, da juventude, sobretudo da juventude literária. Pus-lhe, entre muitas questões, uma que também pusera à Noémia: por que razão é que eles haviam colaborado na revista da Mocidade Portuguesa? Fonseca Amaral: “Por ingenuidade, por sacanice”. Disse-me ele: “Era uma sacanice ingénua”. Julgavam que poderiam tomar de assalto a publicação. Tinham o ideário oposto ao defendido pela Mocidade, tanto mais que alinham com o MUD-Juvenil e, mais tarde, são presos: ele, Rui Knopfli, Ruy Guerra, os mais jovens; ou aqueles que ele chamaria de “os trutas”: Henrique Beirão, Sofia Pomba Guerra, Sobral Campos ou João Mendes, todos eles deportados para Portugal, presos em Caxias.
Sem provas, seriam libertados após o julgamento, mas o João Mendes segue degredado para Cabo Verde. João Mendes, é preciso lembrá-lo, irmão de sangue de Orlando Mendes, irmão de coração da Noémia de Sousa, que lhe dedicará Sangue Negro. Influenciados pelos neo-realistas, irão estes jovens lançar “os tentames de uma literatura de raiz marcadamente moçambicana”, como assinalará Knoplfi. Não é alheia, no entanto, a figura de Augusto dos Santos Abranches, que traz a Moçambique a experiência do “Novo Cancioneiro” de Coimbra e que divulga, com Fonseca Amaral, autores neo-realistas, da “Presença” e do “Orpheu”. Uma verdadeira agitação cultural. Aliás, Amaral começou a publicar poemas na página literária “Sulco” do jornal “Notícias”, dirigida justamente por Augusto dos Santos Abranches. Isto nos anos 40, na companhia do poeta Alberto de Lacerda.
Foi funcionário dos Caminhos de Ferro. Há, na história da nossa literatura, da nossa cultura e da nossa inteligência, muitas figuras que passaram pelos Caminhos de Ferro. Um dia tenho que me atardar sobre o Caminhos de Ferro na vida de escritores, jornalistas ou intelectuais, que tiveram um papel activo na história cultural e política de Moçambique. Há uma importância simbólica que precisa de ser melhor escrutinada.
Contou-me o Fonseca Amaral que foi o Augusto dos Santos Abranches que levou muitos dos jovens a desenhar, entre eles, o Rui Knopfli. É curioso: não me lembro de termos falado de Cassiano Caldas (que também foi funcionário dos Caminhos de Ferro), uma figura decisiva para a geração da Noémia e do Craveirinha. Não só pelas leituras emprestadas, mas também pelo magistério político. Aliás, Noémia irá também dedicar a Caldas o seu livro. Seria, aliás, ela que me levaria a conhecê-lo. Infelizmente, não o entrevistei. Mas aí está outra grande figura irrefutável para a nossa nacionalidade, que fazemos questão de obliterar.
Em 1955, Fonseca Amaral vai para Portugal onde permanece 20 anos. Escreve para a “Voz de Moçambique”. Traduz. A sua produção própria é, a despeito, avara. Regressado nos alvores da independência, entre o Ministério da Informação ou o Instituto Nacional do Livro e do Disco (INLD), em tarefas sempre urgentes e agitadas, num tempo que avulta a falta de quadros, onde é preciso fazer tudo, Amaral também não escreve. Sente-se, no entanto, esgotado.
A sua poesia se constituíra numa linha de cota do que viria a ser a nova poesia produzida em Moçambique. Mesmo assim parecia-lhe datada, não lhe apetecia reuni-la. Insisti com ele: “Fonseca Amaral, eu quero lembrar-lhe isto que você sabe melhor do que eu: os seus textos, mesmo datados, revestem-se de importância histórica e documental. As gerações presentes não têm à disposição a sua poesia em livro.” Ao que ele irá retorquir-me: “Nelson, eu sempre fui um homem de produção muito escassa. Os poemas, alguns, são dolorosos; doem muito. Para já não quero sofrer. Os poemas custam-me muito. Não é o acto, a caneta, o papel e a máquina. Doem muito. E agora devo fugir à dor. Sofri muito”.
Lembro-me como se fosse hoje. Foi uma confissão pungente. Vi, na sua revelação, um homem sincero e honesto. E não quis escavar mais a sua dor. Porém, ainda quis saber se ele escrevia. Disse-me que sim, às vezes, por catarse: “Para me equilibrar. Não tem interesse. São coisas muito pessoais. Tem que ver com a vida afectiva”. Divergimos, então, do tema que lhe doía, falamos dos extenuantes 5 anos que vivera em Moçambique no pós-Independência, das suas frustrações, do seu esgotamento, do regresso a Portugal, onde a mulher tinha uma carreira que lhe garantiria a reforma. Foi muito amável e senti que tinha sido muito sincero ao lembrar as suas memórias da sua já longa trajetória.
A última vez que o vi seria no aludido convívio em casa do Eugénio Lisboa. Eu tenho na memória de que o jantar, no qual estavam a Noémia e o Knopfli, aconteceu em casa do Lisboa. O poeta Eduardo Pitta, que também participou do convívio escreve no seu livro de memórias de que a nossa pândega literária ter-se-á dado em casa do Knopfli. Estou dividido entre a lenda e a realidade. Vou manter para mim que foi em casa do Lisboa. Pouco importa agora isso. Recordo-me, sim, do Fonseca Amaral, ali, pela última vez. Ele subscreveria o mito: com aquele seu ar mefistofélico acompanhou, discreto e elusivo, aquele jantar festivamente moçambicano.
Hoje já ninguém fala do Fonseca Amaral. Os seus companheiros estão quase todos mortos. A nossa memória literária ou cultural é dolorosamente maniqueísta. Falta-nos parcimónia e critérios de valoração que tenham empatia e critérios de abertura. Falta-nos, no fim, uma memória que não seja assaz tribal. Temos a noção de que tudo é fruto de geração espontânea. Quis recordá-lo hoje, quando passam 30 anos sobre a sua morte, creditando-lhe, nesta brevíssima evocação, como o fizera Knopfli, e alguns outros, a importância capital que ele tem na construção do nosso cânone literário – do cânone literário moçambicano. Devemos-lhe isso. O magro espólio que deixou, e que felizmente se encontra reunido em livro, é dos mais significativos nos anos que marcam o nascimento daquilo que hoje chamamos literatura moçambicana, entre os anos 40 e 50 do século XX. Ele é um dos seus fundadores e merece o nosso preito.
Cidade do Cabo, 5 de Janeiro de 2023
WIRIAMU, 50 ANOS

“Na manhã de 16 de Dezembro de 1972, tropas coloniais portuguesas reuniram os habitantes de Wiriamu, incluindo mulheres e crianças, no largo principal da povoação e ordenaram-lhes que batessem palmas que cantassem para se despedirem da vida. Em seguida, os soldados abriram fogo. Os que escaparam às balas foram mortos por granadas. Incitados pelo brado ´Matem-nos a todos´, os militares levaram o morticínio a quatro povoações vizinhas ao longo do Rio Zambeze, onde o território de Moçambique se estende para o Zimbabwe (Rodésia, à data dos acontecimentos), a Zâmbia e o Malawi – uma região designada pelos missionários católicos como ´a terra esquecida por Deus`. No final do dia, perto de 400 aldeãos tinham sido mortos, e os seus corpos eram lentamente consumidos pelas chamas em piras funerárias ateadas pelos soldados com o capim que cobria as palhotas” – esta descrição é feita pelo jornalista britânico Peter Pringle no prefácio ao magistral livro “O Massacre Português de Wiriamu, Moçambique 1972” do moçambicano Mustafah Dhada.
O dia 16 de dezembro de 1972, passam hoje 50 anos, calhou num sábado e a população de Wiriamu preparava-se para agradecer aos deuses pelos dias de chuva que tivera. Os dias tinham sido de fermentação de pombe e cachassu. A chuva era uma bênção que se conquistava muitas vezes à custa de mphondoro. Na manhã desse sábado longínquo, a celebração não aconteceu em Wiriamu. Sobre aquele lugar caiu uma chuva de balas, que estão na origem de um dos mais ignominiosos actos promovidos pelos portugueses e que marcam, de forma sangrenta, a história da sua colonização em Moçambique. Peter Pringle, um dos jornalistas britânicos que conseguiu ludibriar as autoridades portuguesas conseguiria confirmar as denúncias que tinham sido despoletadas no jornal “London Times” pelos Padres de Burgos que corajosamente fizeram chegar ao Padre Adrian Hastings esta página ominosa da história.
A 10 de Julho de 1973, o jornal britânico “London Times” publicou a história do massacre de Wiriamu, facto que seria corroborado pelo Insight Team do “Sunday Times”, dias depois, numa extensa cobertura deste infausto acontecimento. Portugal procurou, por todos os meios, desmentir os factos e desacreditar aqueles que promoviam o conhecimento desta macabra verdade. Usaram os mais hediondos argumentos: conspiração internacional, Wiriamu não existia, invenção dos padres, ficção. Marcello Caetano estava de visita a Londres para a comemoração dos 600 anos da aliança Luso-Britânica. Para além dos jornais e das notícias sobre a brutalidade do regime que representava, tinha manifestações nas ruas de Londres.
A história chegara a Londres por intermédio dos Padres de Burgos que haviam promovido a criminação. A intervenção de Adrian Hastings é decisiva. Os documentos tinham saído clandestinamente de Moçambique para Espanha pela mão de Miguel Buendia. Mas a história vem de longe. Tete fez parte da diocese da Beira até 1962. O Bispo D. Sorares de Resende foi quem convidou as sociedades missionárias dos Combonianos, dos Sagrados Corações de Jesus e Marias, dos Padres Brancos e da Sociedade de São Francisco Xavier (Burgos) para trabalharem na sua diocese onde havia, manifestantemente, falta de padres. A Igreja iria tornar-se num agente transformador da sociedade, sobretudo através da acção das ordens dos Padres de Burgos e outros, na diocese de Tete, que então se autonomiza. A açcão deles, sobretudo a sua formação de cidadãos moçambicanos, é crucial. Muitos deles foram presos, outros tantos interrogados. Os padres, afirmando-se equidistantes tanto das forças portuguesas como das nacionalistas, colaboravam, inequivocamente, com os libertadores. E tiveram uma postura activa na denúncia das atrocidades praticadas contra as populações, contra os moçambicanos.
Mustafah Dhada: “O papel da Igreja no massacre de Wiriamu não é singular, nem simples. Uma das razões que o explicam prende-se com o surgimento de uma liderança senciente disposta a deixar-se moldar pelo ardor da experiência vivida. Soares de Resende, o novo bispo, mudou o rumo da igreja de Tete. Felizmente, a escassez de sacerdotes em Portugal permitiu-lhe selecionar padres que considerava adequados às necessidades de Tete sob o seu episcopado. Daqui resultou um grupo de sacerdotes “importados” extremamente diversificado e ecléctico, que assumiu as responsabilidades inerentes à sua missão com grande seriedade e acolheu uma vida de isolamento nos lugares mais recônditos de Tete como um trunfo para a construção de uma comunidade de crentes socialmente activa. Os Padres Brancos e os Padres de Burgos notabilizaram-se neste tipo de trabalho: os primeiros, graças á sua experiência sacerdotal em África, e os segundos, devido à sua formação e experiência com paróquias assoladas pela pobreza em Espanha franquista e pelas suas personalidades individuais”.
A frente da denúncia, que irá provocar um terramoto, que inclui uma apresentação nas Nações Unidas, foi assumida por Adrian Hastings. O seu relato foi baseado nas denúncias dos padres que estavam no terreno e será corroborado por vários jornalistas, entre os quais Peter Pringle. Esta história não é apenas importante pelo embaraço que criou a Marcello Caetano e ao regime que liderava, ao expor a sua natureza e desumanidade, mas porque estará na origem, a par de outros acontecimentos, do colapso do mesmo, o que acontece a 25 de Abril de 1974, menos de 1 anos depois de ser despoletada. A acção destes padres, que eram uma verdadeira barreira de defesa das populações e que apoiavam a luta pela nossa independência, não é valorizado nem devidamente reconhecido. A história oficial se não a rasura, não a sublinha.
O relatório sobre o massacre de Wiriamu foi inicialmente redigido pelo padre Domingos Ferrão, o primeiro padre negro da diocese de Tete. Os Padres de Burgos protegeram-no dado que ele tinha sido preso anteriormente. Os dados mais importantes destes acontecimentos são conhecidos desde 1972: o número de mortos, o local, as causas – o facto de ser um corredor da frente nacionalista na sua marcha para sul, frente Manica Sofala – e aqueles que o perpetraram.
Vicente Berenguer: “Após o massacre, eu, juntamente com o padre Ferrão e padre Sangalo, fizemos um relatório que foi publicado pelo padre Hastings na Inglaterra. Isto criou uma polêmica, mas Marcello Caetano mesmo assim desmentiu os factos. (...) Viajámos para vários países europeus para expor as atrocidades cometidas pelo regime colonial contra o§ povo moçambicano”.
À distância destes 50 anos, há lugar para que reconheçamos o papel daqueles que assumiram corajosamente o papel da denúncia – redigiram o relatório, levaram-no daqui para Espanha – foi Miguel Buendia que corajosamente o fez -, conseguiram que um jornal britânico desse primeira página e tornaram insustentável a posição e o regime fascista português. Estes padres não só assumiram este importante papel de denúncia das atrocidades, mas deram um contributo decisivo na libertação de Moçambique.
Mustafah Dhada: “O padre Catellá serviu-se engenhosamente dos dois protagonistas do conflito para servir a sua Igreja. Enrique Ferrando recorreu à sua escrita para registar situações de violência em massa e, ao mesmo tempo, defender os direitos dos mais pobres. Alfonso Valverde de León não descansou enquanto não expôs o que considerava ser a verdade nua e crua. Miguel Buendia tinha a habilidade de convencer os colegas mais indecisos a tomarem uma posição apresentando os argumentos adequados com ardor e paixão. Dividido entre o medo e a fé, o padre Ferrão registou o número de mortos na sua lista de vítimas, enfrentando o risco de prisão. Entre eles estava também o padre Berenguer. Os seus truques de magia conquistaram a lealdade dos rapazes mais novos da sua paróquia. A sua calma aristocrática permitiu preservar a consistência da história apesar das tentativas dos detractores para ferir a sua veracidade. O mais excêntrico de todos talvez fosse o padre Sangalo, filho de um toureiro e um ás ao volante de uma Suzuki. O seu dom para travar amizade com representantes da autoridade em pleno território inimigo salvou a sua vida e a de uma testemunha, o que acabou por inverter o rumo da contranarrativa promovida por Portugal.”
Mustafah Dhada nasceu perto do triângulo de Wiriamu onde aconteceu este massacre que este estuda e divulga, com uma notável pesquisa de fontes orais, primárias e documentais, entrevistas. “O Massacre Português de Wiriamu, Moçambique 1972” é uma obra importantíssima para a demanda da história deste massacre e uma denúncia documentadíssima do mesmo. Não sei se a nossa academia a estuda ou promove. Não fosse a nossa congénita distração, o moçambicano Dhada teria sido convidado para falar sobre esta sua investigação e sobre esse seu notável trabalho, o mais importante desenvolvido sobre este tema, aquando desta efeméride. Mais: as instituições que deviam cuidar da nossa memória estariam obrigadas a promover, sobre esta mesma efeméride, iniciativas que a levassem ao conhecimento sobretudo dos mais jovens. Mas ficamo-nos pelo circunstancial e pela instrumentalização política da história. A história não se escreve com slogans ufanos. A história é saber contar os episódios da vida de um povo e este é, indubitavelmente, um deles.
A história oficial ou oficiosa é lacunar e não conta as histórias que fazem a História e oculta o nome de protagonistas importantes. Aí estão e alguns deles vivos. O país deve-lhes um tributo. A todos eles. De Ferrão a Hastings, de Sangalo a Berenguer ou Buendia, entre tantos outros. Hoje passam 50 anos, teria sido uma ocasião soberana para o país lembrar-se destes homens altruístas, generosos, magnânimos, corajosos, que ajudaram a denunciar um regime decrépito - a sua brutalidade, a sua insanidade, a sua desumanidade - e tiveram um papel libertador no futuro do nosso país. Não tenho notícia de que alguma vez estas figuras tenham merecido um reconhecimento oficial, uma homenagem nacional, o que nos honraria a todos como moçambicanos.
















