Blog
Ponte Samora Machel: o símbolo maior da cidade de Tete continua ameaçado

Mas o que me revolta é o facto de a instituição ligada às estradas e pontes em Moçambique, nomeadamente a Direcção Nacional de Estradas, ter vindo a terreiro dizer que as correntes que seguram uma parte da plataforma da ponte, cederam como consequência da passagem de um camião sobrecarregado de mercadoria, em desobediência aos limites de peso impostos na infraestrutura. Revolta-me que a culpa seja atirada inteiramente ao camionista violador das normas, sem nos explicarem que camião é esse, qual era o destino e que carga trazia e o que foi feito para a devida responsabilização, isso seria o mínimo que se exigiria na prestação de contas.
A ponte Samora Machel na cidade de Tete, que liga a urbe e os bairros Matundo e Chingodzi e ainda permitindo a passagem para Zâmbia e Malawi, esteve temporariamente interdita a circulação de viaturas durante 48 horas, entre sexta feira e sábado últimos, criando grandes transtornos à livre circulação de pessoas e bens, por conta de um camião com excesso de peso que supostamente terá rebentado com um suporte da plataforma. Supostamente porquê? Supostamente porque antes já passaram, muito provavelmente, uma vez não havendo controle, muitos outros camiões com peso para além do permitido, até que se atingiu o ponto de saturação, e a DNE não fala dessa possibilidade. A culpa, segundo a instituição, é do último camião.
A pergunta é: o que foi feito ao camionista? Quais são as demarches que estão sendo encetadas a partir deste incidente, com vista a que se respeitem os limites de carga e se proteja a ponte? Afinal não há báscula de controle? A culpa será, efectivamente, deste camionista “desconhecido” e de outros antecessores?, Ou é da Direcção Nacional de Estradas que tem por obrigação controlar o tráfego no local! Estamos a perguntar!
Afinal a cidade de Tete ainda é causticada pela passagem de camiões que demandam países do interland, nomeadamente Zâmbia e Malawi, por via das fronteiras de Kassakatiza e Zóbwè, respectivamente? O que é que passa! Expliquem-nos por favor.
No tempo da governação de Armando Guebuza, foi construída, a partir da zona de Mpádwè, uma ponte robusta baptizada Kassuende, exactamente para desviar os camiões que passavam pela cidade com carga pesada, criando longas filas e por consequência, o caos. Era esse o objectivo principal que se tinha na edificação da Kassuende (aliviar a urbe e a ponte Samora Machel), testemunhando a obstinação e audácia de um presidente que queria e estava a atingir altos rendimentos e níveis notáveis de desenvolvimento. Então, queremos que alguém venha nos explicar porquê que os camiões da Zâmbia e do Malawi ainda sulcam a cidade, pressionando por outro lado, e principalmente, a ponte Samora Machel.
Foram 48 horas de nervos entre sexta feira e sábado, numa situação evitável. E já agora, os camiões continuarão, ainda assim, na saga de “destruir” a cidade de Tete, ou então terão que usar a ponte Kassuende, projectada para efeitos mais do que claros!?
Contra quem, Mambas?
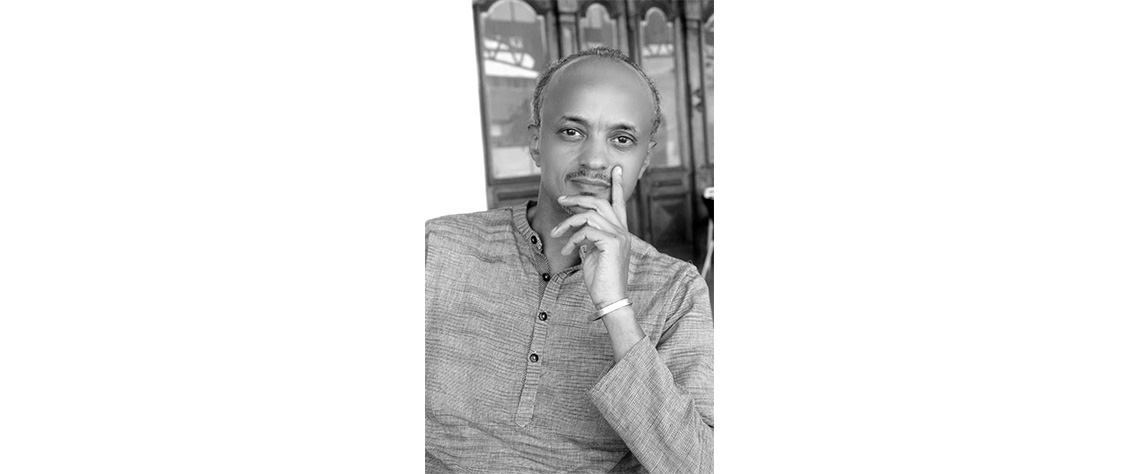
Sobre as recentes e recorrentes revindicações dos jogadores da selecção nacional, vulgo “Mambas,” em nome da melhoria das condições de trabalho e de ganhos financeiros, ouvi alguém a perguntar: “Contra quem, Mambas?”
Intramuros o acto de reivindicar nunca é entendido como uma acção em benefício de quem reivindica. Quem reivindica é sempre acusado de estar a agir a mando de terceiros para atingir beltrano ou sicrano. No caso das actuais revindicações dos Mambas: quem é o fulano nos bastidores e quem será o alvo?
Uma vez que no passado nunca ocorrera algo semelhante, salvo melhor informação, à partida as condições da altura teriam sido das melhores? Ou, em caso de semelhantes às actuais, quais as razões do silêncio na altura?
Não faço ideia alguma. A única que me ocorre é uma outra pergunta: o que terá mudado para que hoje ocorram estas recorrentes revindicações/greves?
E se os Mambas agem a mando de terceiros, será que anteriormente o silêncio terá sido também a mando de terceiros? Estes terceiros, nas duas situações, serão ou não as mesmas pessoas/interesses?
Tenho cá o meu palpite sobre as razões da mudança. Mas para não perturbar a participação dos Mambas na Copa das Nações Africanas (CAN) que se avizinha, vou aguardar pelo seu desfecho.
Para terminar, ainda na esteira das revindicações/greves dos Mambas, e a ter que responder o “Contra quem, Mambas?” responderia com o chavão clássico do prognóstico futebolístico moçambicano: a bola é redonda!
Nando Menete publica às segundas-feiras
Moçambique: por uma terceira via?

Testemunhei, no Mediterrâneo, restaurante italiano, algures na Sommerschield, zona elitizada da cidade de Maputo, a apresentação de "Por uma terceira via", dos proeminentes filósofos moçambicanos, Severino Ngoenha e José Castiano, na sua tradução para o italiano feita pelo Professor Doutor e Investigador no CEI-ISCTE IUL, Lisboa, Lucas Bussoti.
O intelectual, filósofo e docente na Universidade Eduardo Mondlane, Ergimino Mucale, foi o convidado a tecer algumas palavras contextualizadoras sobre o conteúdo do livro, que nesta versão conta com comentários críticos do tradutor.
Não é o facto de estar impresso na língua de Ítalo Calvino ou, para ser mais justo, de Umberto Eco, que me impele a estes parágrafos. É a proposta destes intelectuais que assumem, a meu ver, o conceito de tal actor social, proposto por António Gramsci nos Cadernos do Cárcere.
Divaguemos, ligeiramente, por este ponto. Detido por Mussolini, Gramsci escreveu que o intelectual é este curioso e dotado de ferramentas que, no caso, da sua relação com a Sophia, observa e interpreta a sociedade.
A publicação, neste contexto, de livros, artigos e reflexões são algumas dessas ferramentas, num exercício que os torna intelectuais públicos, à luz de Jürgen Habermas ou, entre outros, Edward Said.
Na mesma linha que Fanon insiste na capacidade de dizer não e, continuando pares precedentes, Achille Mbembe propõe em "Políticas da Inimizade", uma festa da imaginação para a libertação das consciências africanas. Castiano e Ngoenha, contemporâneos deste último, propõem a metáfora de um reencontro no Estádio da Machava, berço do Moçambique independente, para discutirmos que país queremos.
Tal exercício é feito dividindo a história deste moderno Estado em duas épocas ou momentos. Sendo o primeiro de 75 a 90/92 e o segundo como a que a precede e hoje vivemos.
De forma resumida, assumindo o risco de demasiado simplista, o primeiro é o da tentativa de implantação de um Estado Socialista que é caracterizado, na interpretação dos autores, pela busca pelo bem social e igualdades.
A seguinte é a do multipartidarismo, abertura a liberdades política, social e económica que o anterior não teve. São deste segundo momento as aberturas a criação de órgãos de comunicação social independentes, organizações da sociedade civil e o mercado livre.
Não deixa, neste sentido, de ser simbolicamente relevante o facto de a tradução ser feita na língua falada em Roma que é o palco da ruptura ou do fim da primeira e início da segunda com a assinatura dos acordos de paz que impuseram o calar das armas que imperaram por 16 anos em Moçambique.
A proposta do livro é uma terceira via que seja capaz de resgatar os valores positivos de ambos contextos para a elaboração consciente e madura de um novo.
Libertos da guerra fria e do neoliberalismo e as suas correlações de força, a questão é como nos posicionamos internamente num contrato social estável?
Igualmente simbólico é recordar que, provavelmente, o Manifesto mais conhecido é o de Marx e Engels, publicado em 1848. Ambos pretendiam despertar o proletariado não apenas da Grã-Bretanha e da Prússia, mas do mundo inteiro sobre a sua condição e instiga-lo à emancipação.
Porém, para Severino e Castiano, assumindo as palavras do Ngoenha, a meta é dialogar com os moçambicanos. Daí que o autor de "O retorno do bom selvagem: Uma perspectiva filosófico-africana do problema ecológico" opte por escrever apenas em português, como o próprio disse em várias ocasiões e o repetiu no evento que serve de mote para estas notas. O poderia fazer em francês ou mesmo em italiano, pois morou e se formou na Itália e na França bem como na Suíça.
Coincide o seu relançamento da tradução que já tinha sido feita na Itália, ainda este ano, numa altura em que o país vive uma crise pós-eleitoral, diferentemente das anteriores em que apenas os partidos estavam envolvidos. Desta vez, como atestam as manifestações um pouco por todo o país, o povo igualmente reivindica justiça dos seus votos. E o advento tecnológico com a sua rapidez de circulação de informação trouxe a nu várias fraudes e algumas tentativas frustradas ao longo do processo.
Quando pensávamos que, pelo facto de estarmos a viver, igualmente, o primeiro sufrágio universal após mais uma assinatura de acordos de paz que culminou na Desmobilização, Desmilitarização e Reintegração dos membros da RENAMO que não saíram das matas em 94 e amplamente celebrada pelo sucesso, não teríamos mais peripécias que comprometessem a paz, debalde, nos enganamos.
A percepção de que a devolução completa das armas que estavam sob a posse da RENAMO e a desactivação, consequentemente, do seu braço armado, constituía um marco para a nossa jovem democracia na direcção da sua consolidação, nos equivocamos. E somos brindados, novamente, com o espectáculo triste que vemos.
O status quo nos leva a pensar que não estamos a ser capazes de resolver os nossos problemas. Não estamos a ser capazes de materializar a justiça social nem a permitir a efectivação das liberdades.
Neste contexto, a proposta de imaginarmos uma terceira via faz todo sentido. E nessa festa da imaginação, noutro livro, “Mondlane, regresso ao futuro”, Severino Ngoenha propõe o resgate do pensamento da figura considerada Arquitecto da Unidade Nacional, entre as possibilidades existentes. E porquê não, para uma terceira via?
Passei o Natal sòzinha... como um mamarracho

No dia 24 não dormi, passei a noite inteira ouvindo a música que tocava aqui ao lado da minha casa, boa música. Até porque tinha sido convidada pelo meu vizinho, uma pessoa afável que me trata como sua filha, mas eu disse a ele que não. Ainda perguntou se podia trazer alguma coisa para comer, também disse que não. Na verdade não queria nada, o meu desejo era sentir a acidez das feridas que me cobrem o espírito, resultantes da colheita dos ventos que andei a semear ao longo deste tempo todo.
Mas eu preciso de um catalizador para ouvir música, então deslizei à um lugarejo imundo e sombrio onde se vende aguardente de cana de açucar e comprei um litro, depois voltei para casa despida de esperança, com todos os espinhos caíndo sobre a minha cabeça. Aliás, antes de chegar aos meus aposentos lembrei-me que não tinha cigarros, logo rodei sobre o meu próprio eixo e voltei à adega e adquiri dois maços de GT que me vão alimentar sem privações, à par da cannabis que não me pode faltar.
Já estou aviada, e o que me resta é viver. Ainda bem que há uma consonância entre mim e o meu vizinho em termos de gostos musicais. Ele sabe que fui educada nessa linha de fazer da música um alimento imprescindível no cardápio do espírito. É como se tivéssemos andado na mesma escola onde os solvejos ocupam um lugar especial nas composições. E eu sinto-me feliz assim, estando na plateia deste lado, e o meu vizinho estando no palco do outro lado.
Não há vozearia num ambiente de família onde o som da música é ameno, agradável. Eles conversam baixinho, harmoniosamente, sem atrapalhar a música que me chega ao fundo do coração, e nem parece que estou sòzinha, nem parece que sou um mamarracho. Mas eu adoro ser mamarracho porque assim ninguém quer saber de mim, a não ser o meu vizinho que passa sempre da minha casa, e pergunta, como estás minha querida?
Vivo da pensão do meu marido, morto por doença estranha, provavelmente por desgosto que lhe criava. E como se fosse pouco, fui corrida da nossa casa, pela família dele, acusada de ter sido eu, por via do feitiço, a causadora do infortúnio. No fundo prestei um grande contributo na sua morte. Enfeiticei-lhe com a minha vida desregrada, sem respeito àquele que me amava e cuidava. E eu nunca o respeitei.
Agora vivo nesta cubata desgraçada como eu. Não consigo melhorar as condições da habitação, pois invisto todo o dinheiro na cachaça para ver se esqueço a dor. Nem telefone tenho, para quê? Quem é que vai me procurar se nem filhos tenho! Eu também não tenho a quem procurar, a quem chorar. Então para quê o telefone!
Mas passei o dia Natal no paraíso, ouvindo a música que tocava em casa do meu vizinho, lembrando-me os momentos de levitação que vivia com o meu marido, ele que me ensinou a ouvir boa música. E agora só me restam as lembranças enquanto vou arrastando a minha carcaça alagada de cachaça.
O lado ruim da proliferação de potências mundiais para a África
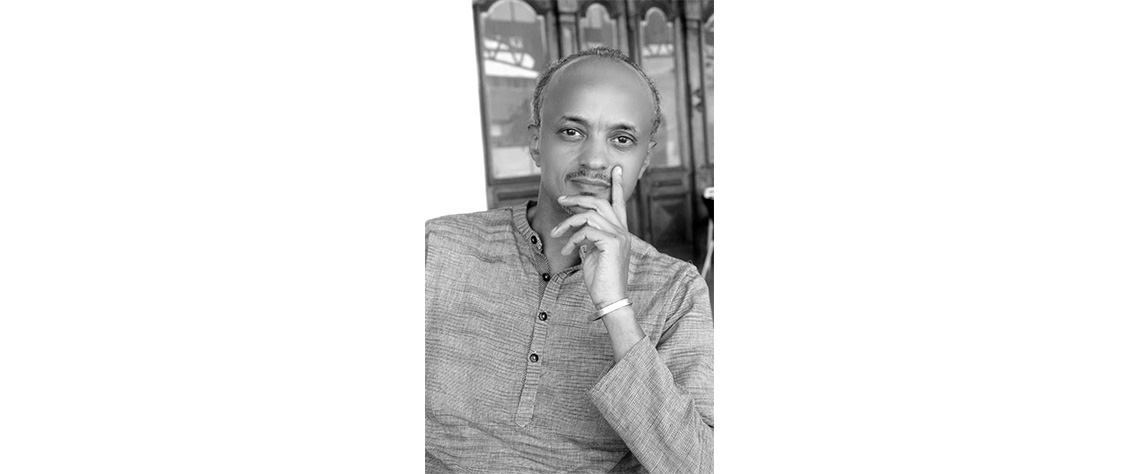
Para a África que se regozija com os sinais de que esteja na forja um mundo multipolar (mais do que um centro de poder estatal mundial), em contraponto com o unipolar das últimas décadas, vai um aviso à navegação: a multipolaridade pode ser fatal para a África. E não sou eu quem o diz: é a História.
Historicamente, e não tão longe, a existência de várias (super)potências mundiais fora ruim para a África. No último quarto do séc. XIX, um grupo de potências mundiais da altura, as potências colonizadoras, sentaram-se à volta de uma mesa em Berlim, capital alemã, e esfrangalharam o continente africano.
Hoje, com os sinais da proliferação de potências mundiais que se acrescem os da eterna avidez forasteira por África, a possibilidade de uma nova divisão não é remota e pelas mesmas razões que ditaram a estadia em Berlim de 15 de Novembro de 1884 até 26 de Fevereiro de 1885.
Lembrar que foram as crispações entre estas potências - que só atrapalhavam, mais do que ajudavam no cardápio da exploração - que ditaram os mais de três meses de negociação de diferenças e do tamanho da fatia do bolo de cada uma delas.
Acredito, para terminar, que o leitor não precisa que se desenhe para concluir que a História repete-se. Aliás, e já dizia Hegel: “A História repete-se sempre, pelo menos duas vezes”. E Karl Marx acrescentaria: "a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. "E a farsa é mais terrível do que a tragédia”, completaria Herbert Marcus.
Nando Menete publica às segundas-feiras
PS: Um detalhe: as conversações da Conferência de Berlim incluíram o período da quadra festiva (1885/86). Hoje, 138 anos depois (2023/24), é bem possível que enquanto o leitor celebra a presente quadra festiva a comer um frango assado no seu “Terreno”, haja, algures numa capital pelo mundo, quem esteja a esfrangalhar o seu “Terreno” e a ditar os termos da sua “ocupação efectiva” até a próxima quadra festiva.
RUI DE NORONHA

Nelson Saúte
“Dum grande poeta deu-se o nome
a uma suburbana
nem tanto quis em vida
das ‘solidões lacustres’
que seu facho ainda alumia
dos nítidos e urbanos
dias ermos
escreveu e morreu”
(Sebastião Alba, “O Ritmo do Presságio”)
Este belo e pungente poema, que termina com versos lapidares (“fulge limpidamente / nas memórias mais graves / dos melhores de nós”), de Sebastião Alba, sucede, cronologicamente, a um outro, de Noémia de Sousa, “Poema para Rui de Noronha – No aniversário da sua morte”, escrito em 1949, e que termina, de forma igualmente lapidar e lacerante: “Como um cometa / atravessando a noite dos nossos peitos esmagados.” A tragédia do Poeta, que subscreve o mito, teve o seu epílogo no dia 25 de Dezembro de 1943.
António Rui de Noronha nascera a 28 de Outubro de 1909, filho de pai originário de Goa e de mãe nascida na África do Sul. Viveu os seus primeiros anos com a mãe biológica, Lena Sophia Bilanculu. Quando o pai, José Salvador Roque das Neves de Noronha, se casa com uma senhora oriunda da Índia, de nome Ana Luisinha de Figueiredo, o pequeno Rui e o seu irmão Amâncio passaram a viver com o pai, a madrasta e os irmãos do casamento subsequente do progenitor. Estudou no liceu que leva hoje o apelido de Escola Secundária Josina Machel, concorreu e foi admitido nos Caminhos de Ferro como aspirante. Ali, a par da sua atividade jornalística, estabeleceu a sua tribuna. Estreou-se aos 17 anos, colaborou em jornais e revistas, fez crítica de teatro e de cinema. Viveu apenas 34 anos.
O poeta ferroviário escreverá “No Cais”, publicado em “O Brado Africano”, em 1934: “Há vibrações metálicas chispando / Nas sossegadas águas da baía. / Gaivotas brancas vão e vêm bicando / peixinhos numa louca gritaria.” Este poema foi recolhido na sua obra póstuma “Sonetos” (1946), organizada e apresentada por Domingos Reis Costa, seu antigo professor, que lhe terá adulterado a obra. O poema, igualmente amofinado, termina com o seguinte terceto: “E ouve-se mais forte, mais vibrante, / Os pretos a cantar, a noite adiante, / Por entre a bulha e o pó das carvoeiras…”
Mário Pinto de Andrade, intelectual angolano de grande gabarito, num ensaio magistral e fundador, “Origens do Nacionalismo Africano: Continuidade e rutura nos movimentos unitários emergentes da luta contra a dominação colonial portuguesa 1911–1961” fala-nos de uma geração de “proto-nacionalistas”, uma geração que precedeu à sua (cunhada por ele como “Geração Cabral”), que nas primeiras décadas do séc. XX, quer em Portugal, sobretudo em Lisboa, quer nas chamadas colónias (São Tomé e Príncipe, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique) empreenderam os primeiros tentames da resistência e protesto. Seriam “proto-nacionalistas”, “pan-africanistas” ou “nativistas”. A questão racial era central, a problemática do ominoso colonialismo. A verdade é que pertenciam a um “movimento negro anti-racista” que se afirmava. Eram os movimentos pan-africanistas, na América avultavam os movimentos dos direitos cívicos, onde pontificam as figuras de Booker T. Washington, W. E. B. Du Bois ou Marcus Garvey.
Creio que a figura de Rui de Noronha deve ser enquadrada nesta geração dos chamados “proto-nacionalistas”. Era o gérmen da rebelião, da contradita, da divergência. Temos por adquirido que o movimento emancipador iniciou nos anos 60. É uma forma oblíqua de ver a História. Há predecessores cujo papel é preciso reparar. À sua biografia desencontrada, marcada pelo infortúnio, ir-se-á confundir uma obra precursora. Poeta esquecido ao longo de décadas, ao ser evocado não falta a mofina que lhe ditou a vida. Fátima Mendonça, que lhe fixou a obra e esclareceu muitos dos equívocos que a edição, sob a égide de Domingos Reis Costa, estabeleceu, insurge-se contra o determinismo biográfico que obscurece uma poesia que vai além do sofrimento, da infelicidade, do desgosto ou do tormento. O porfiado trabalho de Fátima Mendonça muito fez para obviar esse mito redutor e apoucador que aviltava o estro de Rui de Noronha.
“Dormes! e o mundo marcha, ó pátria do mistério. / Dormes! e o mundo rola, o mundo vai seguindo…/ O Progresso caminha ao alto de um hemisfério / E tu dormes no outro o sono teu infindo…” As sim inicia o poema “Surge et Ambula”, imbuído da sua “missão de fazer despertar consciências adormecidas”, como assevera Fátima Mendonça, num continente “onde fervilhavam já as expressões nacionalistas que o pan-africanismo sugeria”. O texto “Rui de Noronha, o esquecido?” foi publicado na revista “África” n.º 13, em 1986. Nesta mesma publicação, no seu número inaugural, em 1978, Francisco de Sousa Neves, no texto “A poesia de Rui de Noronha” defendia que as versões da edição póstuma de “Sonetos” poderiam corresponder a variantes deixadas pelo próprio poeta. Esta “tese” ia em sentido contrário às posições de Rodrigues Júnior que tinha acusado Domingos Reis Costa, encarregado da edição da poesia de Rui de Noronha, de lhe ter alterado e adulterado os sonetos. Isto em 1951! Mais de vinte anos depois, nos anos 70, Guilherme de Melo voltou à liça: um exame ao espólio do poeta revelava isso. Uma atitude preconceituosa em relação a quem denunciara tal aviltamento arrastaria a questão que denigre o Poeta por décadas. Os estudiosos e os antologiadores, por descaso ou abulia, não se ativeram à denúncia de Rodrigues Júnior e reiteradamente mantiveram a franquia torpe de Reis Costa.
Fátima Mendonça debruça-se sobre esta questão: “Foi um erro de que a literatura moçambicana foi vítima e que urge remediar, repondo a verdade. Efetivamente, grande parte dos sonetos publicados apresenta versões que não correspondem às que foram publicadas em vida pelo poeta, em “O Brado Africano”. Um exame ao espólio do poeta – em poder da sua filha – revela que o professor Reis Costa, por sua própria mão, alterou grande parte dos sonetos sobre os originais, tornando-os praticamente ilegíveis. Desta forma, o espólio devolvido à família está praticamente inutilizado. De notar ainda que o compilador deixou de lado inexplicavelmente alguns sonetos e toda a produção poética que não obedecia a esta forma”.
Fica, no entanto, quanto a mim, um enigma por elucidar: por que razão Reis Costa consignou de volta à viúva do Poeta, Albertina dos Santos Noronha, os textos ultrajados? Para mim, é um mistério. Soberba? Zombaria? Confiava demasiado na sua sobranceria ou debochava da crítica e do crivo futuros?
Fátima Mendonça, que defendia na época em que produziu o seu texto, informado e vigilante, advertia que a obra e o poeta Rui de Noronha obrigavam-nos a promover uma edição crítica e reparadora da injustiça praticada por Reis Costa. Vinte anos depois, foi editada a obra “Os Meus Versos – Rui de Noronha” com organização, notas e comentários de Fátima Mendonça. O título do caderno original deixado pelo poeta era justamente “Meus versos” e essa era a intenção da organizadora. O zeloso editor acrescentou-lhe “os”, alterando-lhe título. É irónico: parece que o poeta está fadado a este tipo de infortúnios. Não quero imaginar a fúria da estudiosa.
Primeiro fora Rui Knopfli, que lhe chamara “a primeira voz” (na revista “Tempo”, em 1973), e depois Sebastião Alba, que o homenageara no belo poema (publicado em 1974) que serve de epígrafe a este texto, e, mais tarde, José Craveirinha que lhe chamara “o Grã poeta da circunvalação”, que haviam estimulado o interesse e o fascínio que Fátima Mendonça desenvolveria sobre a obra e a figura de Rui de Noronha. Aliás, recordo-me das vezes que Craveirinha o evocava e descrevia na geografia emocional e cultural da Mafalala. Também Noémia de Sousa falar-me-ia de Rui de Noronha e de outras ínclitas figuras daquela época, como Estácio Dias, Karel Pott, os Dahan ou os Mata e todos aqueles que habitavam “O Brado Africano”, como os fundadores João e José Albasini.
Aníbal Aleluia, em dezembro de 1950, escreveria sobre o Poeta em “O Brado Africano”. Michel Laban , em 1992, quando o entrevistou, não evitou a pergunta óbvia: “Conheceu Rui de Noronha?” Aleluia retorquiu: “Conheci. Era um homem solitário, um temperamento a um tempo romântico e melancólico, de uma sensibilidade rara. A sua poesia traduzia a um tempo fatalismo e inconformismo. Parecia profundamente afectado pelo racismo então muito forte nesta terra. Creio que foi isso que o levou ao abandono de si mesmo, qualquer coisa como a busca do Nirvana. Não quero aludir a aspectos da sua vida que jogam com sentimentos íntimos, uma paixão não correspondida que se lhe atribui e que, no dizer de alguns, ditou o seu precoce passamento pela Terra.” (“Moçambique – Encontro com Escritores”)
Eduardo White (“Rui de Noronha, o poeta que a morte não poupou”, 1984), quase trinta e cinco anos depois irá descobri-lo. Da mesma geração, Mikas Dunga (Pedro Chissano) irá sobre ele discorrer na “Charrua”: “Encontro marcado com Rui de Noronha” (“Charrua” n.º 2, 1984). Importa referir o importante trabalho de Olga Iglésias, profusamente citado por Fátima Mendonça. Manuel Ferreira, um dos precursores, em Portugal, do estudo e divulgação das nossas literaturas, situou-o diligentemente. Mário Pinto de Andrade também o fizera na “Antologia Temática de Poesia Africana”.
Logo no texto que abre a coleção dos textos “Meus versos” escreve o poeta: “Mas o meu canto é mágoa.” Isto lhe define o destino: “Cruel destino o meu que ao meu caminho trouxe”, escreverá no soneto subsequente, que termina assim: “Que eu ficarei cantando o nosso eterno amor!” Estes versos primeiros parecem definir-lhe o anátema: “Vem de séculos, alma, essa orgulhosa casta, / Repudiando a dor, tripudiando a lei, / Num gesto de altivez que em onda leva, arrasta, / Inteiras gerações de amaldiçoada grei.”
A dor, a tristeza, a solidão, a amargura, a noite, o frio, a mágoa, os infernos, entre outros sintagmas, dominam estes versos que ajudam a construir a imagem de um poeta enjeitado pela raça e pela amada e que se deixa destroçar até à morte. “Porque é através da Dor, não da Alegria / Que eu mais sinto a beleza, a poesia / Duma manhã que canta e de um poente…” Ou num outro poema: “Oh, minhas ilusões, mágoas sem fim!”. “E eu sou tristeza sempre, sempre pranto…”.“… E eu nada tenho por amar-te tanto!”
A dor reiterada: “Só nesta dor que me sepulta, ignoto / Não chega a luz da lua e nunca noto / A beleza das cousas sempiternas.”. Os “Dias Tristes”: “Tristeza de si própria comovida…” A dor, sempre a dor: “A dor eterna é dor; mas dor maior / É aquela que um momento foi menor / E se tornou imensa em dor volver…” No poema “Caminhos”: “E eu entristeço e penso em quanta mágoa”. E no texto “Eternamente” escreve: “E esta amargura acerba de cair.” Ou no poema “Menti?”: “Vê tu quanta amargura novamente...”
O poema “Sonho Desfeito”, não coligido na edição póstuma, é assertivo quanto ao seu infortunado amor: “Foi curta a história desse amor que eu tive, / Mas foi profundo e triste o rasto seu. / Foi rápido e fugaz como o declive / Do aerólito que no céu correu…” José Craveirinha, na entrevista que concedeu a Michel Laban, em 1993, também se lhe refere: “Eu lembro-me do Rui de Noronha a dizer-me: ‘Continua, miúdo. Continua…’ Ele passava aqui, nesta rua, vou-lhe mostrar a casa onde ele morava. Ele saía de serviço, trabalhava no Caminho de Ferro, vinha para casa. Depois da casa, vinha assim sozinho, seu fatinho de linho, seu chapéu na mão… Esta rua não era alcatroada, era areia. Andava à volta e passava pela sua Dulcineia – a mulher que o inspirou sempre e que casou com outro. Mas que ele amou até à morte. Ele ia assim, passava e ela às vezes aparecia na varanda. Ele ficava assim, só para ver – já casada com outro. E ele voltava. Era um homem triste. Nunca o vi exuberante, a rir-se. Eu cheguei a vê-lo no “Brado Africano”, chegou a ser chefe de redacção do “Brado Africano”, mas sempre triste. Aliás, morreu cedo: ele não morreu, matou-se. Sim, praticamente matou-se, porque ele estava proibido de beber e bebia álcool puro.” (“Moçambique – Encontro com Escritores”).
Rui de Noronha: “Amei-te tanto, meu amor, oh, tanto!…/ Que ver cair tão súbito este encanto / Eu acredito que te amei bem pouco…”. Ou num outro poema: “Ninguém te amou como eu te amei outrora”.
Mas Rui de Noronha foi também o poeta que escreveu sobre os “Patshises” (carregadores no cais): “A pena que me dá ver essa gente / com sacos sobre os ombros cansadíssima / Às vezes é meio-dia, o sol tão quente / E os fardos a pesar, Virgem Santíssima!”, ou sobre os “Mavikis” (contratados à semana): “De manhãzinha, a mata ainda escura, / Ainda dormindo os colibris nos ninhos, / Partem cantando uma canção obscura, / Em variados grupos ou sozinhos”. Poeta que reparou da humilhação de um herói: “E o Gungunhana, em pé, sereno o aspecto, / Fitava os dois, o olhar heroico, augusto”. Isto diante de Mouzinho. Poeta extraordinário desse fabuloso “Quenguêlequêze”.
Fátima Mendonça é assertiva: “É esta contradição, lucidamente assumida, que Rui de Noronha expõe aos homens do seu tempo. E é precisamente um dos polos do eixo em que se move essa contradição que a edição póstuma de “Sonetos” escamoteia. A seleção feita por Domingos Reis Costa criou uma imagem deformada do homem e a da obra, esta a servir aparentemente de refúgio para as inquietações e angústias daquele. Se a obra de Rui de Noronha exibe permanentemente um conflito não resolvido , dela faz também parte a afirmação da identidade africana.” (“Literatura Moçambicana – A História e as Escritas”).
Noémia de Sousa, no “Poema para Rui de Noronha” escreve: “Mas o archote, murcho e fraco, / que tuas mãos diáfanas mal lograram suster, / deixa que nós o levemos!” Rui de Noronha fica assim consagrado como a voz fundadora da poesia moçambicana, pese embora, na Ilha de Moçambique, José Pedro Campos Oliveira, seja efetivamente o primeiro poeta nascido em Moçambique. O mito fundador fica assim endossado pela poderosa voz de Noémia de Sousa. Com José Craveirinha, Fonseca Amaral, Rui Nogar, entre outros, ela estará na origem da poesia de raiz marcadamente moçambicana, anos depois, no dizer de Rui Knopfli. Naquele poema evocativo, de 1949, a autora de “Sangue Negro” concedera a Rui de Noronha, que morrera seis anos antes, no dia 25 de dezembro de 1943, passam hoje 80 anos, os “trilhos abertos a golpes de catana” na literatura moçambicana.
“Desperta! O teu dormir já foi mais do que terreno.
Ouve a voz do Progresso, este outro Nazareno
Que a mão te estende e diz-te: - África, surge et ambula!”
(Rui de Noronha)
P.S. – Rui Knopfli morreu - coincidência infeliz!-, num dia 25 de dezembro, em 1997.
KaMpfumo, 25 de dezembro de 2023

















