Blog
O Direito à Ilusão
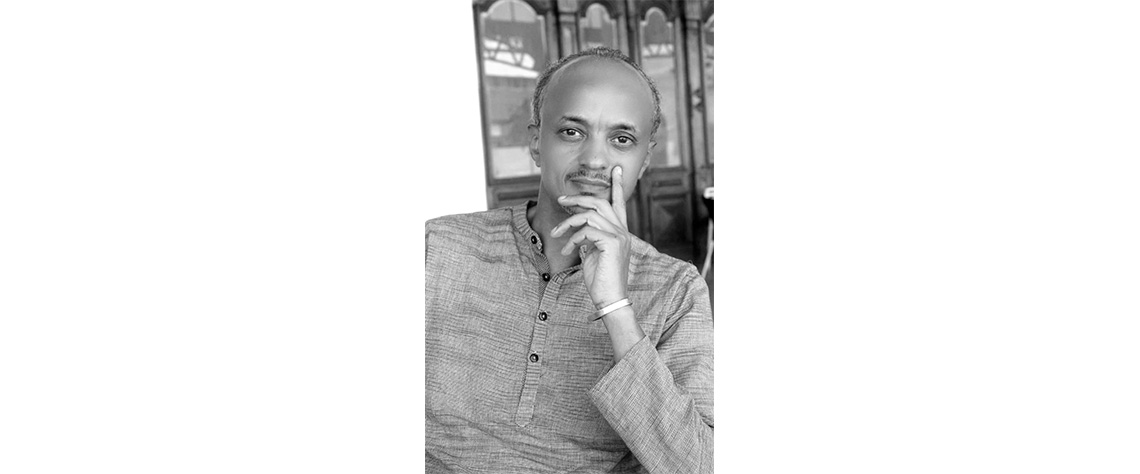
Durante a campanha pelo perdão da dívida de países pobres altamente endividados, que incluía Moçambique, era comum considerar que os países nórdicos eram os credores benevolentes e de que os maus da fita eram os credores tradicionais ocidentais.
Os primeiros porque emprestavam/doavam e não violentavam e os segundos porque violentavam, atendendo os condicionalismos para a recepcção do apoio que, até certo ponto, beliscavam a soberania dos devedores.
Esta ideia foi desconstruída numa palestra organizada por uma coligação nacional da sociedade civil criada para os esforços do perdão. O palestrante socorreu-se do facto dos países nórdicos também condicionarem a ajuda a um acordo com as instituições de Bretton Woods (FMI e Banco Mundial) - as que capitaneiam, segundo a crítica feita, o capitalismo pelo mundo – para inferir de que eles eram tão iguais ou piores quanto os credores tradicionais ocidentais. Foi o degelo.
Em reacção, Irâe Lundin, saudosa académica, professora universitária e activista social, agradeceu os ensinamentos, mas, no entanto, referiu que preferia continuar a acreditar na ilusão de que os nórdicos eram os benevolentes, pois, concluindo o pensamento dela, também nos assistia uma espécie de “Direito à Ilusão”.
Este direito veio-me à memória em pleno jantar de São Valentim quando perguntado se alguma vez, na vida, já derretera o coração de alguém. “Sim” foi a resposta, acrescentando que fora durante uma viagem à Europa.
No destino, enquanto o avião rolava para o estacionamento, fui dobrando com mestria, ginga e pinta a manta do avião, tendo, em seguida, colocando-a elegantemente na bolsa da poltrona. Nesse instante oiço um arrebatador “Wonderful!” (Maravilhoso) que me corta a profundeza da espinha. Era a voz, por coincidência, de uma bela nórdica e ocasional companheira de viagem.
Desde então - passam mais de 15 anos - tenho relatado este episódio a amigos como o apogeu da arte na esfera da conquista, tanto é que derretera o coração da bela nórdica. Um gostinho posto em causa, mal acabara de contar, com a acusação de que o “Wonderful” fora, na verdade, por eu não ter furtado a manta do avião. Que maldade!
À luz do (meu) “Direito à Ilusão,” ainda que o “Wonderful” fosse por uma outra razão, prefiro continuar a pensar que a bela nórdica se apaixonara por mim. Gosto e soa bem!
Decorrente do exposto, e para terminar, dei-me conta de que possa ser por isso, o “Direito à Ilusão”, que se justifica que ainda haja quem acredite nas promessas de nossos governantes, suas políticas públicas e, até, de que haja mesmo Governo.
Nelson Saúte, o memorialista de fina estirpe, é hoje, 26, aniversariante, escreve Ericino de Salema

Fez-se jornalista em meados da década 80 do século XX, quando se viu a debitar habitualmente o seu gene de cidadão cultural na Gazeta de Artes e Letras da Revista Tempo, que tinha como coordenador o escritor Luís Carlos Patraquim. Não só escrevia de ofício, como não perdia as na altura habituais tertúlias literárias na Associação dos Escritores Moçambicanos (AEMO) e as sessões de m’saho que tinham como palco o Jardim Tunduru, conforme contou-me um veterano do jornalismo pátrio que com ele partilhava as máquinas de escrever da e na Tempo.
Na década de 90 do mesmo século, logo nos seus primórdios, Nelson Saúte (NS), o sujeito de quem falo, estreita-se como escritor, mas sem dissociar-se duma das técnicas do jornalismo, que é também um dos seus géneros: publica em 1990 A Ponte do Afecto, seu primeiro livro, que é uma colectânea de entrevistas a escritores portugueses.
Inspirado nos dissabores da famigerada guerra dos 16 anos, mais concretamente no camião transportando cadáveres feitos algures em Maluana em plena avenida Eduardo Mondlane, qual epicentro da capital do país, a caminho da morgue do Hospital Central de Maputo (HCM) e sob escolta de Marimbique, um personagem por sinal por si amado, NS viria a publicar, em 1998, o romance Os Narradores da Sobrevivência, no qual procura fazer o que os antropólogos chamariam de etnografia de Moçambique dos anos 80 do século passado, contando em profundidade como se conjugava, por aquelas alturas, o verbo sofrer. Fá-lo com histórias de cenas sobre o carapau. O repolho. Os ‘grupos dinamizadores’. As bichas. Ou seja, com quase tudo.
Aliás, é no post scriptum do Os Narradores da Sobrevivência onde ele relata, distante das entrelinhas, o que aquele período da nossa história colectiva significa:
“Os anos 80 foram anos dramáticos. Foi o tempo em que experimentámos a miséria mais abjecta em termos materiais. Onde os homens despojaram-se da sua humanidade e vestiram a bestialidade oculta na sua personalidade. Foram os anos da morte, da violência das armas que em humanas mãos serviram para destroçar os mais belos projectos igualmente humanos que havia entre nós e reduzir o homem moçambicano à condição de coisa nenhuma” (pág. 141).
Bem vistas as coisas, de memorialista, conforme o catalogo no título deste texto, NS tem o facto de tomar o passado como seu referencial literário, como seu imaginário criativo, mas ajudando os seus leitores a perceberem, a partir do que produz, o presente, que, nalgumas vezes, até parece sósia do passado.
Os dois trechos abaixo, igualmente extraídos do Os Narradores da Sobrevivência, me parece dizerem, com as necessárias adaptações, muito dos que, durante dois anos (2017-2019), sensivelmente, recusavam que Cabo Delgado estivesse sob ataque terrorista, bem assim do que fenómenos como exclusão social e desestruturação da família enquanto agente de socialização primária podem fermentar:
“Onde é que se viu, pá? Uma guerra aqui? Já parece que os tipos que escrevem nos jornais têm a paranóia dos filmes americanos. Esta malta anda maluca, Jone. Isso é lá no cinema. Aqui está tudo calmo, pá. Aqui não há crise” (pág. 62).
“Às vezes aparecem esses molwenes, esses meninos que mendigam nas ruas, os sem ninguém, vêm aqui sentarem-se com os velhos. Brincam no colo da velhice (...). Eles são filhos do sofrimento. Nasceram do ventre da desgraça. Foram paridos pela miséria. Eles, sim, um dia hão-de fazer guerra” (pág. 64).
Nas entrelinhas do seu livro de poesia A Pátria Dividida (1993), acha-se representado o Moçambique actual, marcado por várias corridas, muitas delas atabalhoadamente conclusas ou mesmo a marcha atrás, como o são os dossiers ‘Proposta de Lei das Associações’ e ‘Eleições Distritais’, talvez por conta de “desenrascanços” políticos.
‘Sob o Olvido da Cidade’ (pág. 42) é um dos poemas que integram A Pátria Dividida:
“Pelo grito nomeamos
cabelos olho nariz
lábios boca
dorso seios umbigo
púbis nádegas.
O corpo que amamos
na posse da loucura.”
Em 1998, tive o privilégio de conhecer NS ‘em pessoa’, enquanto co-facilitador de um Curso de Especialização em Jornalismo Cultural, com dois meses de duração, oferecido, em Maputo, pela União Europeia a jornalistas culturais dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP). Nesse curso, no qual tinha como colegas jornalistas como Gil Filipe, Frederico Jamisse, Belmiro Adamugy, Eduardo Constantino e Policarpo Mapengo, NS revelou-se não só como um exímio intelectual e homem de cultura, mas como, também, uma pessoa frontal, convicta, amiúde até com parcas doses de diplomacia, o que em educação de adultos talvez seja um valioso activo.
Terá sido isso que concorreu para que NS se incompatibilizasse com alguns dos colegas desse curso, sobretudo os angolanos, com destaque para o ‘kota’ Sá de Carvalho, que teve solidariedade incondicional dos seus patrícios...
Foi pelos dias daquele curso que, através de NS, conheci certas figuras incontornáveis do chamado jornalismo moderno, como a italiana Oriana Fallaci, autora da célebre obra Uma Entrevista com a História (1972), e o excêntrico actor Gerard Depardieu, habitualmente conhecido como francês, mas de há uns anos para cá russo, por motivos que não cabem nestas linhas.
Em Os Habitantes da Memória, livro que NS fez publicar em 1998, corporizado por entrevistas a um grupo selecto de escritores moçambicanos, resulta claro que o seu ADN literário foi consideravelmente influenciado por Oriana Fallaci. Da entrevista ao saudoso jornalista e escritor Heliodoro Baptista (HB), inserta nesse livro, vale sempre a pena ver o que abaixo se transcreve:
“[NS] Há um hiato de cinco anos na tua vida como jornalista. Foi um momento de terrível confrontação com o regime. Qual é o teu testemunho sobre esse tempo em que estiveste silenciado?
[HB] Fui impedido de trabalhar e, sobretudo, de ser jornalista. A ordem era que eu não podia ser jornalista neste país. Estava à espera de ir para Maputo trabalhar no Notícias. Deixara o Diário de Moçambique, podia ir para o Notícias, Tempo, AIM (Agência de Informação de Moçambique) ou INC (Instituto Nacional de Cinema), sei lá, para um lugar onde podia ser jornalista. Um dia, o Botelho Moniz manda dizer-me que o Sr. Armando Guebuza precisava de falar comigo com muita urgência. Estava em casa, pus uma roupa qualquer e fui assim mesmo. Lembro-me que ele estava no Palácio que era do antigo governador colonial, havia uma série de oficiais superiores, saíam e entravam, era uma fase de grandes movimentações de guerra. Depois de ele ter atendido esses oficiais, fomos para um jardim onde ele estava instalado com bebidas, amendoins, castanhas de caju, bolachinhas, requintes para a altura. O Botelho Moniz acompanhava-me. Ele fez o intróito com o Armando Guebuza. Lembro-me que se falava numa purga na China – a do “Bando dos Quatro”. Lembras-te? Ele dizia: ‘Ah, aquilo é muito aborrecido porque o comunista nunca deve fazer isso a um camarada seu’. Não fez mais nenhum comentário. Depois, começou a fazer-me perguntas deste tipo: ‘Conheces o Jorge Amado?’. ‘Sim conheço. Conheço muitos livros de Jorge Amado’. ‘Não, estava-me a referir àqueles livros que eu li’. Acabou por dizer-me que tinha lido Os Subterrâneos da Liberdade. O Jorge Amado já tinha ultrapassado essa fase do comunismo. E, depois, mudando de assunto: ‘Não interessa, nós estamos preocupados consigo, com a sua situação...!’. Como se ele não fosse o responsável por essa situação! Como se não fosse ele a dizer que eu não podia trabalhar. Isto, sete meses depois de eu estar no desemprego, sem receber. Então, fez esta proposta concreta: ‘Nós temos várias ideias’ – eu penso que uma delas era o campo de reeducação – ‘mas uma das ideias, aliás, já falei aqui com o Botelho Moniz, é que você vai trabalhar para uma empresa’. Não disse qual era a empresa, mas eu presumo qual; e não precisou se era na Beira ou fora. Só disse que não faltaria absolutamente nada na minha casa. Disse: ‘Peço que veja isto, aos seus filhos, à sua mulher não faltará nada em casa, todos os meses haverá um rancho substancial para si e aqui o camarada Botelho Moniz vai-se encarregar disso. Ele tem essas instruções. O que é que você acha? Pense bem, ainda tem alguns dias’. Respondi: ‘Eu não penso nada uns dias, digo-lhe já o que é que eu penso. Digo que não. Digo que eu sou jornalista desde 1970 e vou continuar a ser jornalista. É esta a minha palavra, é esta a minha resposta’. E ele: ‘Mas, está bem, pronto, pense nisso. Fica assim. Você pense!’. E o pensar transformou-se em cinco anos sem trabalhar” (págs. 98 e 99).
Em 2002, entrevistei Armando Guebuza, poucos meses depois de ser eleito, numa sessão do Comité Central da Frelimo daquele ano, secretário-geral do partido e candidato presidencial nas eleições de 2004, tendo-o questionado sobre o que o teria levado a aplicar a “lei da secagem” – tomando de empréstimo a expressão de Marcolino Moco – ao jornalista e escritor Heliodoro Baptista, ao que respondeu: “Não me recordo”.
Muitos estarão recordados do NS comentador político, sobretudo na TVM, na segunda metade da déceda 90 do século XX, quando acabava de regressar a Moçambique – depois de se licenciar em Ciências de Comunicação, em Portugal – a convite do finado Mário Dimande, antigo Presidente do Conselho de Administração (PCA) dos Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM), para assumir as funções de assessor de comunicação do Conselho de Administração daquela empresa pública. Era ele um comentador político muito descomunal para aquele tempo!
Recordo-me tê-lo visto adentrar-se na minha casa da Rua 9 do bairro de Mahlazine, através da TV, para comentar os “debates” daquele dia na Assembleia da República. Sem papas na língua, disse, e cito de memória: “Muito vergonhoso ter um Parlamento assim. Isto não pode ser. Somos merecedores de respeito enquanto contribuintes. A continuar assim, era melhor que aquilo se chamasse escolinha do barulho e não Assembleia da República”. Com essas declarações contundentes, parece ter terminado o percurso de NS enquanto comentador político!
Em 2001, NS é nomeado administrador executivo dos CFM, no consulado do então PCA Rui Fonseca, ao que me foi dito por um quadro sénior daquela empresa “no intuito de conduzir o complexo processo de racionalização da força de trabalho, o que implicava a redução do efectivo de 20 mil para cerca de três mil trabalhadores”.
Ainda nos CFM, é-lhe atribuído o mérito de ter estimulado a promoção de jovens técnicos e a descoberta de talentos. Através duma iniciativa por si desenhada, denominada “Conversas às Sextas”, os técnicos da empresa tinham a oportunidade de conversar informalmente com o PCA, de onde se revelaram colaboradores que representavam ‘mais-valia’, por via do que se tornaram depois, e muitos deles continuam hoje, gestores de topo dos CFM e de empresas concessionárias do sector ferro-portuário de Moçambique.
Bastante rigoroso, conforme testemunhei quando com ele colaborei, ainda que episodicamente, em certos projectos editoriais, bem assim quando com ele interagia habitualmente nos primórdios do semanário ZAMBEZE, de que eu era chefe de redacção e ele colunista, NS é, em bom rigor, um profissional amiúde incompreendido por muitos, provavelmente pela sua conhecida vaidade e sentido crítico.
Actualmente com mais de 10 livros publicados e ainda ligado aos CFM, de cujo museu é curador, além de ser editor da Marimbique, Nelson Saúte, um escrevinhador de memórias tanto em diversas disciplinas literárias como em prosas tributárias que tem regularmente produzido e publicado no jornal digital Carta de Moçambique, é hoje, 26 de Fevereiro, aniversariante, completando 56 anos.
Quando o PR é o teu chefe
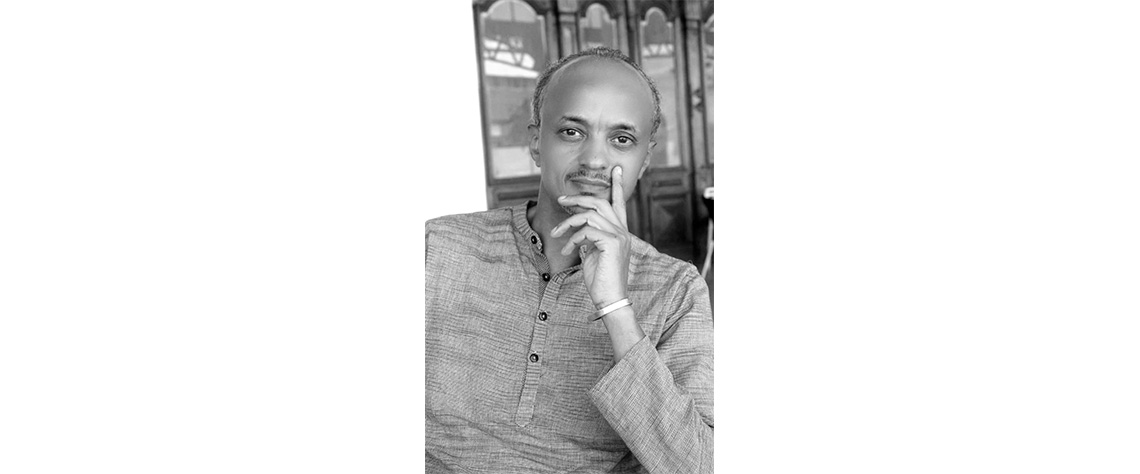
A actual onda de críticas ao Presidente da República (PR), traduzidas em “memes” nas redes sociais, lembra-me os ingleses. Estes em algum momento da minha vida, sobretudo na adolescência, enquanto ferrenho adepto de futebol, fizeram-me muita confusão.
A confusão: na verdade eu não percebia como um “Gentleman”- assim conhecidos os ingleses - poderia ser tão violento e malcriado nos estádios de futebol. Estou a falar dos “Hooligans”, o cognome dos adeptos ingleses de futebol.
A minha confusão foi atenuada por um vizinho – o Google da zona desse tempo – que me explicou, na altura, que os ingleses aproveitavam das partidas de futebol para descarregarem a sua fúria contra os chefes dos respectivos postos de trabalho. Assim, os árbitros - os principais alvos da fúria – representavam a figura do chefão carrancudo, chato e mandão do “Job”.
Temo que por cá – o moçambicano também é um “Gentleman” - esteja a passar o mesmo em relação ao PR. No caso, e porque os campos de futebol andam às moscas – para a graça dos nossos árbitros – o PR tem sido, talvez por gostar tanto de futebol, o escape escolhido para a descarga da fúria dos “Ximocos” (problemas) de cada um com o seu respectivo chefe.
Ademais, a onda de críticas – algumas a roçarem a uma total perda de decor – vem ampliando o seu caudal, quiçá, por força de outros assuntos que apoquentam a sociedade, destacando os de efeito devastador na deterioração da “tolerância ao absurdo” e na qualidade de vida dos moçambicanos, em particular do pacato cidadão.
Que saídas para a situação? Mudar de emprego? Trocar de chefe? Melhorar o futebol? Não sei, mas de algum lado devemos começar. Por enquanto, registe: tudo leva a crer que o que se assiste nas redes sociais seja uma forma de protesto social contra o modus operandi e o rumo da governação, incluindo a do teu chefe.
A problemática da fundamentação da proposta de lei das organizações sem fins lucrativos e a salvaguarda da liberdade de associação

Contextualização
O Conselho de Ministros elaborou e aprovou a proposta de lei das organizações sem fins lucrativos (Proposta de Lei das OSFL) tendo submetido à apreciação da Assembleia da República no dia 27 de Outubro de 2022.
Essa Proposta de lei das OSFL é, fundamentalmente, concebida pelo Conselho de Ministros como um acto ou processo de revisão da Lei n.º 8/91, de 18 de Julho (Lei das Associações) e do Decreto n.º 55/98, de 13 de Outubro, que cria o quadro legal que define os critérios da autorização, objectivos a atingir e os mecanismos de actuação das Organizações não Governamentais Estrangeiras em Moçambique (ONGs Estrangeiras).
Desde que a mesma Proposta de Lei das OSFL foi dada a conhecer ao público em geral e as organizações da sociedade civil em particular tem sido objecto de acesos debates públicos na perspectiva de contestação da mesma, principalmente, pelos principais visados que são as organizações sociais de advocacia.
O processo de revisão legal obedece, regra geral, aos preceitos da Constituição da República de Moçambique e a determinados critérios que justificam a razoabilidade e importância desse exercício para a resolução de um problema fundamental que é de difícil resolução, seja por existência de um vazio legal na matéria em causa, seja porque a legislação em vigor não está adequada para responder aos desafios da actualidade de diferente natureza que se pretende regular.
É, pois, por isso que deve haver estudos feitos para sustentar essa revisão, bem como identificação da metodologia que a revisão legal vai obedecer, a apresentação da sua fundamentação e a exposição dos principais objectivos que se pretende alcançar com a mesma revisão legal. São estes os elementos que o presente artigo traz à reflexão no que respeita à Proposta de Lei das OSFL que é percebida pelo seu proponente como um processo de revisão da Lei das Associações e do Decreto n.º 55/98, de 13 de Outubro que regula as ONGs Estrangeiras em Moçambique.
A Problemática
A proposta de Lei das OSFL trata essencialmente de liberdade fundamental de associação, o que significa que em primeira linha a mesma proposta deve respeitar as garantias constitucionais sobre os direitos e liberdades fundamentais, bem assim os princípios e objectivos fundamentais do Estado que norteiam a Constituição. Qualquer modificação da legislação ordinária que regula a liberdade de associação tem de ter como finalidade adequá-la à realidade constitucional e às dinâmicas da protecção dos direitos humanos.
No entanto, não se percebe qual a metodologia adoptada para a elaboração da Proposta de Lei das OSFL, tanto é que não são apresentados os estudos metodológicos que serviram de base para a elaboração da mesma proposta. Na fundamentação, resulta que a Lei das Associações em vigor se mostra desajustada da realidade, sendo necessária a sua revisão. No entanto, não é demonstrada a investigação levada a cabo para se chegar a essa conclusão, nem se demonstra em que medida a Proposta de Lei das OSFL resolve o alegado problema de desajustamento da realidade por parte da Lei das Associações em vigor.
Estranha e curiosamente, da fundamentação da Proposta de Lei das OSFL resulta ainda que: “A revisão antecedeu a um vasto processo que iniciou em Agosto de 2008, abrangendo todo o território nacional, chegando a ser depositada na Assembleia da República em 2017, onde não foi apreciada, justificando-se a sua urgente aprovação pela necessidade de adequar o regime das Organizações Sem Fins Lucrativos à actual conjuntura política, económica e social do País.”
Porém, infelizmente, esta asserção não constitui verdade, uma vez que a Proposta de Lei das OSFL foi elaborada e aprovada pelo Governo até à efectiva submissão à apreciação da Assembleia da República, sem qualquer participação pública relevante das organizações da sociedade civil, principalmente das organizações sociais de advocacia, para além de que não é resultado do processo de revisão que iniciou em 2008 com término em 2017. Aliás, um dos maiores défices desta Proposta de Lei das OSFL é a falta de participação pública que reflecte indubitavelmente violação do princípio do Estado de Direito Democrático constitucionalmente consagrado.
No mesmo sentido, é deficitário o acesso à informação em torno da lógica deste processo de revisão sobre a legislação que regula o funcionamento das associações. Pelo que fica comprometida a credibilidade e legitimidade desta proposta de lei por apresentação de fundamentação com sérios sinais de falsidade e por dificultar o acesso à informação sobre as razões da revisão.
Mais do que isso, é que da fundamentação da proposta de lei das OSFL fica inequívoca a principal necessidade da revisão da Lei das Associações em vigor ao se referir que: “Na essência, pretende-se que os mecanismos e os procedimentos da actuação das ONGs previnam o branqueamento de capitais e o financiamento ao terrorismo, sendo necessário descortinar as fontes e origem de financiamento, mecanismos de coordenação, monitoria e avaliação, regime fiscal e aduaneiro, primazia de mão-de-obra local, formação e transferência de tecnologia a favor das comunidades beneficiárias dos projectos ou programas destas organizações.” A base da revisão da Lei das Associações através desta Proposta de Lei das OSFL é, pois, o branqueamento de capitais e o financiamento ao terrorismo, sem que tivesse sido feito um estudo e avaliação de risco das associações visadas sobre o envolvimento nesta matéria.
Concluindo
A fundamentação da Proposta de Lei das OSFL é de tal forma atabalhoada e problemática que deixa a entender que a mesma ainda carece de fundamentação no quadro do Estado de Direito Democrático para que seja legítima, razoável e idónea.
O branqueamento de capitais e o financiamento ao terrorismo é que constituem o pretexto da revisão do regime jurídico das associações sociais com vista a marginalizá-las e limitar arbitrariamente a liberdade de associação e o exercício da cidadania.
Até ao presente momento não se percebe as razões da revisão, bem como os objectivos da mesma à luz da salvaguarda da liberdade de associação nos termos constitucionalmente previstos. Da fundamentação da Proposta de Lei das OSFL não é possível vislumbrar as incongruências que o regime jurídico em vigor sobre associações apresenta para justificar uma revisão nos termos ora propostos pelo Governo de Moçambique.
Por: João Nhampossa
Human Rights Lawyer
Advogado e Defensor dos Direitos Humanos
A Estética da Vulgaridade no Templo da Ciência – Radicalizar a Proposta de Mazula para uma Efectiva Reforma Universitária (parte II – conclusão)

Retomamos a segunda parte do texto publicado recentemente, sobre a necessidade da reforma da estrutura da organização académica no subsistema de ensino superior em Moçambique. A proposta, da autoria do Professor Brazão Mazula, surge no seguimento das celebrações dos sessenta (60) anos do Ensino Superior em Angola e em Moçambique, decorridas em 2022. Na referida proposta, Mazula sugere que o departamento e o respectivo chefe, como unidade orgânica primordial na organização da actividade académica, tivessem maior autonomia, autoridade e legitimidade científica do que o director da faculdade, enquanto unidade orgânica académica político-administrativa.
A pirâmide invertida da autoridade académica
A unidade mínima de produção académica é o docente-investigador, ou o professor, nas suas múltiplas e diferentes categorias. Os processos de gestão administrativa e burocrática na academia, em princípio, se constituem para criar as condições ideais para aumentar a produção e produtividade dos académicos. Actualmente, na academia moçambicana a pirâmide está invertida. Os académicos (professores) é que prestam contas aos administradores, no lugar de serem os administradores a prestarem conta aos académicos.
Os académicos é que têm iniciativa para propôr novos cursos, preparar as aulas e criar projectos que concorrem aos fundos de pesquisa. Todavia, os académicos depois se sujeitam aos ditames e vontades do poder discricionário dos chefes, a todos os níveis, particularmente os directores de faculdade e, nalguns casos, aos chefes de departamentos, até para conseguir uma simples assinatura num pedido de autorização para participar numa conferência da sua disciplina.
Esta inversão da pirâmide de autoridade académica infantiliza os académicos, principalmente os professores, e transfere todo o incentivo dos processos académicos para as estruturas de gestão administrativa. Consequentemente, esta inversão intensifica a luta pelos cargos de chefia e direcção que se tornam mais politizados.
A inversão da pirâmide também cria incentivos para que os chefes sejam incluídos nos projectos de académicos e em publicações, mesmo sem darem alguma contribuição significativa em termos científicos, mas, simplesmente, para não dificultarem a implementação dos mesmos. O mesmo ocorre com a supervisão de trabalhos de pesquisa para dissertação onde vários estudantes, até em áreas que não são do domínio científico do chefe, são sujeitos a mau acompanhamento e à reprodução da mediocridade.
Faz-se vista grossa ao incestuoso procedimento de ter um director de faculdade a presidir um júri ou supervisionar um estudante, na sua faculdade, num contexto em que ninguém pode ousar questionar a autoridade do chefe sem sofrer represálias, muitas vezes, com efeitos catastróficos para a carreira profissional.
A arbitrariedade de alguns chefes atinge níveis exagerados de abuso de poder. Alguns chegam ao ponto de usurpar, impunemente, a propriedade intelectual de projectos concebidos por colegas. Tratam-nos como (in)subordinados, entre outros comportamentos perversos protegidos pela autoridade de gestão administrativa, incluindo a possibilidade de instaurar processos disciplinares ilegítimos aos colegas que resistem ao despotismo administrativo na academia.
A academia moçambicana não matou, de pequeno, o (crocodilo) Leviathan académico que devora, sem dom nem piedade, os seus melhores filhos. Mazula tem o mérito de ter lançado o repto para um debate sobre a reforma académica. Quanto a nós, pensamos que este é um debate necessário em todas as instituições de ensino superior moçambicanas que pretendem ser uma Universidade de Pesquisa e Pós-graduação de facto.
A remuneração de cargos de gestão académica
Tivemos o privilégio de colaborar em sistemas onde o director de faculdade, ou mesmo o chefe de departamento, é uma função não-remunerada. Quando muito, atribui-se um subsídio que não suplanta o vencimento regular como académico de acordo com o enquadramento na carreira profissional. Este princípio não se aplica ao Corpo Técnico e Administrativo que faz carreira diferenciada, ainda que dentro da academia.
Nesses sistemas, e de forma rotativa, todos os professores têm a prerrogativa, e por vezes a obrigação, nalgum momento da sua carreira, de assumir a direcção da sua unidade orgânica para melhor servir aos seus colegas. Ser ‘chefe’ nestes casos não é um privilégio, pelo qual vale tudo, mas um dever de servir aos colegas com responsabilidade.
Todos os professores devem, pelo menos uma vez, sacrificar alguns anos do seu trabalho, estritamente, académico para gerir a Faculdade e/ou o Departamento como parte das suas obrigações e, para isso, não precisam de ser remunerados além do salário normal, pois todos passarão por isso, rotativamente. Não se é chefe para se servir e abusar dos pares, mas para servir aos colegas e ao templo da ciência.
Ainda nesses lugares, a principal função do director e do chefe de departamento é a de garantir as condições de trabalho dos seus colegas. Durante dois ou três anos, o colega se dedica à gestão. Ninguém, após cumprir o seu tempo na gestão tem interesse em lá permanecer, querendo retomar a sua função principal de académico.
No entanto, em Moçambique, pelo contrário, temos indivíduos que querem ser chefes vitalícios na academia. Esse é o maior sinal de mediocridade e parasitismo académico. Querem ser chefes eternos e, ao mesmo tempo, académicos a tempo inteiro. Numa universidade histórica do país, por exemplo, houve várias tentativas de propor a extensão dos mandatos de directores de faculdades de três para cinco anos renováveis. Não podia haver proposta mais reveladora do carácter profano e perverso do sentido da academia e da inversão da pirâmide da autoridade académica. Enquanto esta inversão se mantiver, haverá cada vez mais déspotas académicos atraídos pelo poder administrativo a lutar por cargos administrativos do que académicos, com mérito, predispostos a ocupar cargos de chefia e direcção com base na confiança.
Há indivíduos com reputação de académicos, mas cuja carreira académica destaca-se apenas pela ocupação de cargos de chefia e direcção, desde chefe de secção, chefe de departamento, director de faculdade, até ao topo da gestão universitária. No entanto, como académicos deixam muito a desejar aos seus próprios pares, pois a sua produção académica não tem nenhum mérito reconhecido entre os seus pares. Se não fossem chefes ninguém lhes reconhecia o mérito académico. A autoridade académica que detém deriva da ocupação de cargos de confiança, chefia e direcção, na gestão e administração das unidades orgânicas.
Há chefes com inveja dos colegas que se dedicam à vida académica como vocação. Esses chefes usam o seu poder administrativo para impedir, a todo o custo, a progressão académica dos colegas com recurso a todo o tipo de esquemas e manipulação de mentes de colegas, estudantes e da opinião pública.
Escondem a sua mediocridade nos cargos de chefia e direcção que ninguém pode ousar questionar sob pena de sofrer represálias. Instalam um clima de medo e terror, manipulam processos de sucessão, supostamente democráticos, nos cargos de chefia e tornam a academia nesse tempo profano denunciado por Mazula.
Em resumo, Mazula tem razão – o templo da academia ou da ciência foi profanado. O sacrilégio anuncia a miséria da academia ou, ainda, a academia da miséria.
A reforma do departamento, receamos, poderá não ser suficiente para devolver a sacralidade do templo profanado. A estética da vulgaridade se revela no dramático esplendor diurno da ousadia da mediocridade decorada com altos títulos académicos ocupando as poltronas do poder-administrativo Leviathanico, ou mesmo satânico, dos cargos de confiança, chefia e direcção. Um novo templo exorcizado se faz necessário onde a autoridade escolástica do professor-investigador guiado pelo Bourdieuiano ‘líbido sciendi’ se sobrepõe, de forma responsável, com pesos e contrapesos, à arbitrariedade despótica e corrupta instaurada no templo da ciência.
[1] Sociólogo, especialista em Estudos do Ensino Superior
[2] Reitor da Universidade Pedagógica de Maputo
O nosso jornalismo (país) não está bem

O nosso jornalismo não está bem. E quem diz jornalismo, diz o país, há uma relação muito intrínseca entre as duas variáveis. Não há, nem pode haver, país saudável sem um jornalismo saudável, fluorescente! O estado de saúde e de estar do jornalismo reflecte o nível da sociedade em que está inserido.
Na sociologia e ciência política, está plasmado que a media consubstancia o quarto poder… a par dos poderes executivo, legislativo e judicial. Mais proficiente a media, mais alto o nível de uma sociedade, sendo válido o inverso.
O meu amigo e colega Shafee Sidat realizou com pompa e circunstância a festa do Gwaza Muthini referente ao presente ano, com mais de cinquenta mil convidados de todos os cantos do mundo. Segundo a imprensa e os relatos nas redes sociais, conviveu-se, comeu-se, divertiu-se, dançou-se, bebeu-se e mais alguma coisa, à grande e à francesa. Até tivemos companhia de canto e dança de Itália, lá nas Europas - algo inédito na história das festas dos Gwaza Muthinis!
Consta que só não comeu quem não quis. E os meus colegas da imprensa testemunharam tudo e inclusivamente estiveram na tenda principal desfrutando de tudo de bom que lá esteve disponível.
Pois então, no lugar de se enaltecer tudo isto, pedras das mais grossas é o que se arremessou/a ao bom do Shafee! A cerimônia do Gwaza Muthini não tem nada de extraordinário, sempre aconteceu nestes nossos anos de independência - ainda que não se esteja a celebrar uma vitória na batalha, mas a resistência dos nossos antepassados. Ademais, sempre que fazemos missas nas nossas casas, há comeretes e beberetes sem fim!
Cúmulo dos cúmulos das pedradas… há os que viram “guerreiros criminosos" que foram “assassinar hipopótamos” para uma festança popular, “violando todas as regras ambientais e de preservação das espécies protegidas”. Ou seja, na ementa dos comeretes do Gwaza, o prato mais abundante foi a carne de hipopótamo! Criou-se e alimentou-se a ideia de que a carne deste anfíbio foi o prato mais forte na cerimônia, tendo havido mesmo publicações que quase o afirmaram directamente, ipsis verbis.
Espantosamente, violando-se o mais sagrado princípio da ética e deontologia da vida (não só do jornalismo), o contraditório, ninguém procurou o pacato SS, como ele gosta de assinar os seus escritos, para confirmar fosse o que fosse, ou obter mais detalhes sobre a alegada festança de carne de crocodilo... Procurou-se cimentar a ideia de um boom da carne de hipopótamo no Gwaza Muthini de 2023. Muito provavelmente com base em imagens circuladas no WhatsApp nas vésperas, mostrando dois hipos sendo transportados em uma grua é um tractor de algures para algures, mas nunca em Marracuene!…
Tirando um e outro… quase ninguém se deu ao luxo de procurar obter mais informações sobre o suposto abate de hipopótamos… onde teriam sido abatidos, quando, por quem, como… as mais básicas perguntas do e no jornalismo. Nada. Até hoje. E o que se vai registar erroneamente na nossa história é que na versão 2023 de Gwaza Muthini foram abatidos e consumidos dois hipopótamos sob a batuta e patrocínio do então administrador Shafee Sidat!
E assim vai o nosso jornalismo. Aliás, o nosso país!
Estava a ter algum engonhanço de fazer esta nota. Mas perdi preguiça quando, ao longo destas semanas, chegou-me aos ouvidos que um jornalista se recusou a ir fazer cobertura de uma cerimónia envolvendo um administrador de distrito, algures neste nosso imenso Moçambique, alegadamente porque este não lhe providenciara pequeno almoço… Chegou-me também um um outro episódio não menos condenável segundo o qual uns jornalistas num outro ponto do país se tinham furtado de ir fazer cobertura de um evento porque a instituição organizadora do tal evento não lhes pagara ajudas de custo…
Perco palavras…
O nosso jornalismo não está bem! O nosso país também não está!
ME Mabunda















