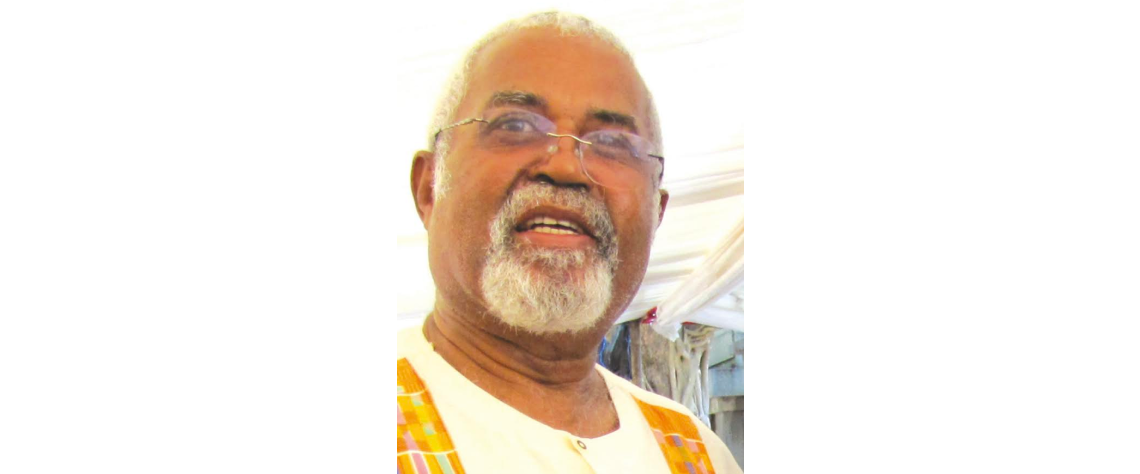Blog
Dois pesos e duas medidas

Segundo a nossa enciclopédia virtual nos dias de hoje, Google - quão abençoadas não estão os que se iniciam neste capítulo de investigação e escrita!… tudo na palma da mão, basta saber o que quer e formular devidamente e, apenas, ter megas; no nosso tempo de iniciação, a mais pequena coisa tinha que se ir a bibliotecas e muitas vezes sair de mãos a abanar -, a máxima ‘dois pesos e duas medidas’ é “uma expressão popular utilizada para indicar um acto injusto e desonesto, algo feito parcialmente. Normalmente, está relacionada com situações similares [mas] tratadas de formas completamente diferentes, seguindo critérios diferentes e à mercê da vontade das pessoas que as executam”. A expressão oficial “dois pesos e duas medidas” foi registada inicialmente na bíblia sagrada, no livro de Deuteronômio (25:13-16), nos seguintes termos: “Não carregueis convosco dois pesos, um pesado e o outro leve, nem tenhais à mão duas medidas, uma longa e uma curta. Usai apenas um peso, um peso honesto e franco, e uma medida, uma medida honesta e franca, para que vivais longamente na terra que Deus vosso Senhor vos deu. Pesos desonestos e medidas desonestas são uma abominação para Deus vosso Senhor."
Vem esta breve peroração a propósito do que nos foi dado a assistir esta semana na vida sócio-política da nossa bela pérola do Índico!
Pois bem, nos últimos dias, testemunhamos dois actos extraordinários; um bastante raro, e outro mais ou menos inédito na nossa governação toda. O não inédito, mas raro: é o de um dirigente que foi exonerado em tempo recorde, sem sequer ter tomado posse. Um vice-ministro de desportos que o foi por menos de dois dias, no consulado de Joaquim Alberto Chissano. Foi nomeado para o cargo num dia e, em menos de 24 horas, exonerado. É claro que em ambos os consulados, de Chissano e de Armando Guebuza, fomos tendo dirigentes que pouco duraram, um a dois anos. Mas foram muitas raridades!
O mais ou menos inédito, ou inédito mesmo: o de um chefe máximo que cedeu a uma pressão pública para a exoneração de um dirigente. Tanto Chissano, quanto Guebuza sofreram em diferentes momentos muita pressão para exonerarem este ou aquele governante e não deram o braço a torcer. Muito pior quando a pressão fosse pública. Lembremo-nos da enormíssima pressão popular feita na altura para Joaquim Chissano exonerar Manuel António, então ministro do Interior, mas nunca cedeu. Tirou-o quando bem entendeu, até para mostrar que não era por pressão popular. Mas sabemos que, imensas vezes, muitos caíram por força de pressão de certos sectores sobre o dirigente máximo. Os nossos boises não acolhem bem que certos sectores sociais façam pressão pública, julgam que estão a ser apequenados, seus poderes e sobretudo saberes postos em causa, que esses sectores acham que as ideias deles são de somenos inteligência, daí a tenaz resistência.
Esta semana que corre, vimos o nosso amigo dos tempos do “Ler e Escrever”, a defunta página literária do jornal domingo, a ser exonerado de funções em menos de um ano de exercício. Embora, como nunca, não se tenham apontado as razões da exoneração, está mais do que claro que ela decorreu da pressão popular que cerca de cem organizações da sociedade civil exerceram sobre o chefe do estado para o apear. Não há como não estabelecer uma correlação neste caso! Pelo menos não foi apontado o contrário, não se desmentiu em nenhum momento esta relação causa-efeito, embora momentos oportunos para tal não tenham faltado.
O crime do nosso amigo foi ter sugerido uma reflexão séria sobre a questão das uniões prematuras, dando como exemplo a Maria que teve Jesus com 14 anos! Esta é, sem dúvida nenhuma, uma questão bastante complexa, melindrosa, bicuda na nossa sociedade (não só em Moçambique, mas também em alguns países africanos), que requer mesmo uma… reflexão profunda! Basta lembrar que, em nossas sociedades, existe a prática de ritos de iniciação a meninas e meninos de 12, 13, 14 anos, onde, justamente, uma das coisas que se ensinam com maior acuidade é a sexualidade! Basta lembrar igualmente que a maioria dos nossos líderes tradicionais, esteios para o combate a esta prática, todos eles a praticam de uma ou de outra forma. Basta lembrar igualmente, ainda, que as famílias a que pertencem estas meninas têm, muitas vezes, uma não pequena quota de responsabilidade no processo dessas uniões prematuras!… cumplicidade de algum jeito, que inclui colaboração activa, passiva ou inação ou ainda omissão!
E, então, é crime apelar a uma reflexão profunda?… alegando exemplos factuais históricos?… Não estamos em defesa do exonerado secretário de estado de Manica, nem temos mandato para tanto, apesar de termos uma relação de alguma amizade de décadas.
Seja qual for o posicionamento de cada um de nós, o que parece, aqui e agora, é que este caso enquadra-se perfeitamente, ipsis verbis, como uma luva, no exemplo do dito secular introdutório ‘dois pesos e duas medidas’!
Não muito tempo atrás, e em recorrência, o Ministério da Educação cometeu das piores asneiras que um ministério de educação de um país pode cometer para com uma sociedade. Haverá grande diferença entre o procedimento do nosso MINED e o acto praticado por Dick Kassotche? Claro que há uma grande diferença! Colossal!
O nosso Ministério da Educação não apelou a nenhuma reflexão profunda. Praticou actos, ou tem praticado acções bastante lesivas à sociedade. Praticou. Condenou toda uma geração a uma ignorância colossal nociva tal que hipoteca sem limites o futuro de uma sociedade inteira. Os erros - todo o tipo de erros, históricos, científicos e linguísticos - nos livros escolares são de uma gravidade que em nada se compara com um apelo a uma reflexão profunda sobre determinado assunto! Reflectir é crime? É nociva à sociedade? O caso MINED é apenas um exemplo.
Pediu-se a cabeça da ministra! Nada. Até hoje! Dois pesos e duas medidas. Quid júris?
ME Mabunda
Homenagem a Carlos Cardoso: Beira 1951 – Maputo 22 de Novembro de 2000!

Apesar das mudanças profundas na área económica, com efeito a partir do ano 1987, com o PRE – Programa de Reabilitação Económica e com a entrada em vigor da nova Constituição da República em 1990, que advogava o multipartidarismo e a economia do mercado, Carlos Cardoso manteve a sua veia socialista, ou seja, não se aproveitou da posição privilegiada que tinha, para o locupletamento indevido, antes pelo contrário, denunciava esse enriquecimento fácil de muitos “camaradas” e expunha as formas como isso acontecia e muitos não gostavam da nova forma de estar de Carlos Cardoso.
Conheci-o e com ele privei, graças ao meu colega Belmiro Baptista, a quem Cardoso recorria para se consultar sobre assuntos de natureza económica. Hoje, 23 anos depois do seu bárbaro assassinato, quero, através deste pequeno trecho de reflexão, homenagear aquele que considero um dos grandes ícones do Jornalismo Moçambicano. Aliás, Carlos Cardoso merecia que o Sindicato Nacional de Jornalistas de Moçambique organizasse um Simpósio para homenageá-lo. Espero que um dia se lembrem. Bem haja Cardoso.
AB
“Os anos 90 trouxeram a paz para Moçambique, mas também uma profunda reestruturação económica e um programa de privatizações. Carlos Cardoso acompanhou, com incredulidade, o emergir de uma classe que enriquecia devido ao seu acesso privilegiado aos antigos recursos estatais. E, ao que parece, a sua determinação em expor as ilegalidades desse processo acabou por lhe custar a vida”.
In BBC para África, o mais mediático Julgamento de Moçambique
“Iniciou a actividade jornalística em 1975, no semanário Tempo. Continuou na Rádio Moçambique e na Agência de Informação de Moçambique (AIM), onde foi director por dez anos. Durante vinte anos exerceu o jornalismo como uma forma de contribuir com o seu país.
O jornalista também se dedicou às artes plásticas e realizou sua primeira exposição de pintura no ano de 1990, na cidade de Maputo, denominada de "Os habitantes do forno".
Depois de vários anos trabalhando em órgãos de imprensa do Estado (os únicos que existiam em Moçambique até à abertura política), Cardoso foi membro fundador da primeira cooperativa de jornalistas, a Mediacoop, proprietária do semanário "Savana" e do diário Mediafax, em 1992. Em 1997, fundou o seu próprio diário, também distribuído por fax, o "Metical" que, tal como o nome indica (Metical é a moeda de Moçambique), era virado essencialmente para questões económicas”.
In Wilkipedia.
Conheci o jornalista Carlos Cardoso e com ele privei por algum tempo, durante a minha iniciação na publicação de artigos que abordavam assuntos de natureza social e económica para os Jornais. Cheguei a publicar nos meios em que esteve envolvido, como é o caso do Mediafax, Savana e Metical. Não me lembro de ter publicado nenhum artigo nos órgãos de comunicação estatal. Carlos Cardoso era exigente do ponto de vista de fontes do que se escrevia e, sempre que possível, procurava informar-se da veracidade, no caso de implicar alguém.
O meu convívio com Carlos Cardoso também se deveu ao facto de ser colega do Belmiro Baptista, na altura, Director Geral da Empresa Nacional de Comercialização EE. Na verdade, Carlos Cardoso encontrava-se muitas vezes com o meu colega, para se consultar sobre matérias relacionadas à economia e factos que Carlos Cardoso precisava de aprofundar mais. Encontrava no meu colega uma fonte segura para se informar. Nessa altura, também se falava de política, sobretudo, devido à falta de confiança que Cardoso começava a ter pelos membros da Frelimo, o partido a que se dizia ser “membro sem cartão”.
Pessoalmente, admirava Carlos Cardoso pela forma directa e destemida como abordava os assuntos políticos e económicos. Lembro-me que, nas eleições de 1999, depois da votação, na companhia do meu colega, encontrei-o próximo do Restaurante Madjedje e, quando questionado sobre o que achava das eleições, disse sem papas na língua: “O Presidente pode ganhar estas eleições, mas a Frelimo não”. Justificava a sua afirmação com o facto de no seio dos membros da Frelimo ter-se perdido o princípio de humildade, que os membros da Frelimo se tinham tornado numa elite de burgueses e não respeitavam o povo.
A área predilecta de Carlos Cardoso no jornalismo foi o jornalismo de investigação. O Banco Comercial de Moçambique e o Banco Austral terão sido, provavelmente, a razão do seu assassinato. Vale lembrar aos mais novos que o julgamento das “dívidas ocultas” não é o primeiro a realizar-se na cadeia de máxima segurança, vulgo B.O. Trata-se do segundo caso. O primeiro foi o caso Carlos Cardoso, por isso Carlos Cardoso marcou, de forma indelével, a vida dos moçambicanos e de Moçambique, sobretudo, daqueles que se batem pelo uso correcto do bem comum.
Os jornalistas moçambicanos, sobretudo o Sindicato Nacional de Jornalistas, parece-me estarem em dívida com Carlos Cardoso. Não faz sentido que um dia como hoje, 22 de Novembro, dia em que foi assassinado Carlos Cardoso, passe sem nenhuma actividade relevante da classe, ainda que fosse somente para uma conversa sobre a vida e obra deste ícone de jornalismo Moçambicano. Algo não está certo na classe. Devemos reflectir.
Adelino Buque
Mandela teria evitado o 11 de Outubro
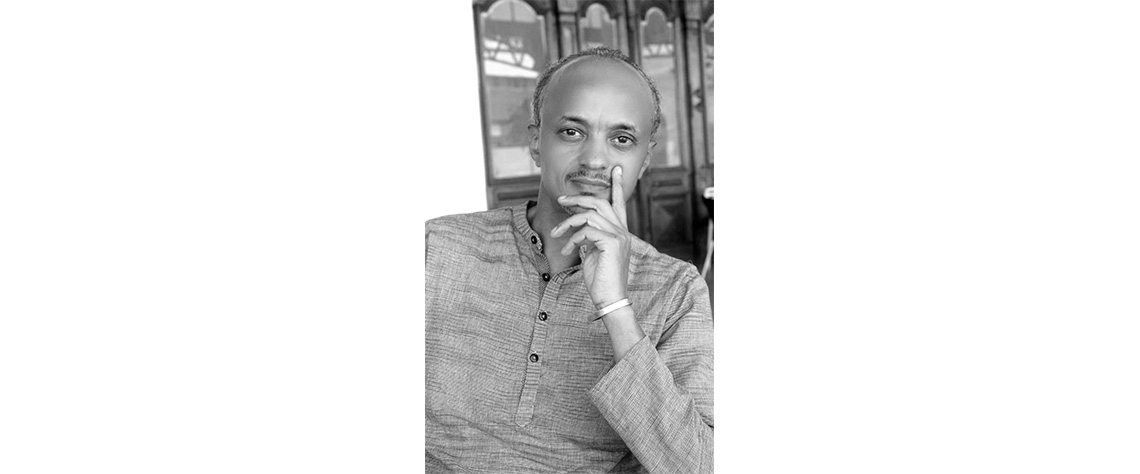
No filme Invictus (2009), do cineasta Clint Eastwood, Nelson Mandela, o então recém-eleito presidente da África do Sul em 1994, recorre ao campeonato do mundo de rugby, realizado em 1995, na sua terra e ganho pelo seu país, como uma ferramenta política do seu governo (1994-1999) para promover a reconciliação racial entre brancos e negros no pós-apartheid, evitando assim o agudizar do conflito que, na altura, esteve à beira de uma guerra civil.
Por alto, retenho uma das passagens do filme, em que a ala dura do partido de Mandela pressionava-o para que se retirassem os símbolos – como a cor do equipamento - que a selecção sul-africana de rugby usava, pois tais símbolos representavam a era do Apartheid.
Mandela defendeu para que assim não fosse, acautelando de que não se podia tirar aos compatriotas brancos o pouco que os restava. Deste pronunciamento, subentende-se a preocupação por consequências imprevisíveis por tal acto. Lembrar que o rugby, o desporto-rei da população branca, é praticado na sua maioria por esta franja da sociedade sul-africana e é um seu símbolo identitário.
Intramuros, e no âmbito dos acontecimentos ligados ao 11 de Outubro, o dia da votação das sextas eleições autárquicas, acirrados com a divulgação dos resultados pela Comissão Nacional de Eleições, venho pensando neste filme, sobretudo na mensagem de Mandela.
Diante dos dados, ora no Conselho Constitucional, penso que Mandela teria feito semelhante intervenção, evitando assim este escaldante calor social que temo que esteja, por estes dias, disfarçado ou em fermentação, se fazendo passar pelo calor natural que também tem abalado o grosso do país.
E porque Mandela esteve ausente na resolução de apresentação e divulgação dos resultados, que haja Mandela no acórdão de validação e proclamação mais esperado de sempre.
Nando Menete publica às segundas-feiras
Sobre o relançamento da nossa Economia! “Ecos do Economic Briefing”

“Não há dúvidas de que a agricultura, indústria transformadora e o turismo são os sectores que deveriam merecer a melhor atenção para o relançamento da nossa economia, contudo, para que esses sectores tenham sucesso, é importante que se relance o princípio de “produza e consuma Moçambique” e dar primazia a instituições que assim se comportam nos concursos públicos de fornecimento de bens e serviços, através da atribuição do distintivo “Made in Mozambique”, um selo que premeia as empresas que se distinguem no consumo de produtos nacionais. São o exemplo a seguir no trabalho digno e são pagadores das suas obrigações fiscais e outros”.
AB
“Num País, com o nível de dificuldades que nós temos, do financiamento à economia, era possível haver uma estratégia relacionada ao Banco Central e … numa definição, dois ou três sectores prioritários, para o relançamento da economia e pedir aos Bancos que canalizem até um determinado montante aquilo que eles depositam nas reservas obrigatórias. Canalizassem a esses dois ou três sectores a taxas bonificadas porque ganharíamos todos, ganharia a economia a ser financiada, ganhavam os Bancos que não estavam a taxa zero no Banco Central e ganha a economia como um todo”.
In João Figueiredo, no Economic Briefing CTA
Tem sido objecto de debate o financiamento da nossa economia e, pelos dados que amiúde vêm sendo divulgados, os recursos financeiros são canalizados para os sectores menos produtivos e com baixo contributo para o PIB nacional, como é o caso do comércio. No entanto, a agricultura contribui com 25% do PIB, mas recebe qualquer coisa como 3 a 4% do financiamento, ou seja, o financiamento à agricultura, que é o suporte da economia, é feito com base em recursos familiares, o que parece uma distorção e que deve ser corrigido com urgência. Entretanto, a questão é: quais são os sectores que podem servir de alavanca para a nossa economia? Na minha opinião, são três, a saber:
- Agricultura;
- Indústria transformadora e;
- Turismo.
Se considerarmos que mais de 80% da nossa população trabalha na agricultura, e que a agricultura, que contribui para o PIB com 25%, é do tipo familiar, isto significa que o potencial de crescimento deste sector é enorme e resolve-nos o essencial de um País, que é o combate à fome e, ao mesmo tempo, pode equilibrar a balança de pagamento, evitando a importação de produtos, cuja produção é possível e sem recurso a grandes tecnologias.
A produção Agrícola, à escala comercial, também pode permitir a retenção de jovens nas zonas rurais, limitando, dessa forma, a migração campo/cidade e com as consequências que isso tem trazido para a superlotação das cidades e vilas pelo País. Não só a taxa de desemprego iria baixar, como também a criminalidade, resultante de ociosidade, baixaria e teríamos as cidades e vilas lugares livres de crimes e com boas condições para se viver.
Relativamente à indústria transformadora, a ideia seria financiar a transformação dos principais produtos agrícolas e evitar a exportação em bruto da maior parte da nossa produção. Essa indústria poderia, igualmente, conservar produtos cuja produção é sazonal como, por exemplo, tomate, citrinos, algumas hortícolas, carnes, peixe entre outros. Esta indústria, devidamente acarinhada, poderia também empregar muita gente e contribuiria, sobremaneira, para o desenvolvimento da nossa economia, como diz o Dr. João Figueiredo, ficaríamos todos a ganhar, por isso, na minha opinião, seria o segundo sector elegível para o relançamento da nossa economia, mas, não há dúvidas que o processamento dos produtos agrícolas acrescenta valor.
Por outro lado, para que os dois sectores tenham sucesso, é imperioso a revisitação do princípio “produza e consuma Moçambique”. Na verdade, não basta que o produtor produza e a indústria transforme os produtos agrícolas, se não tivermos consumidores preferenciais, a economia continuará estagnada e/ou pior do que está hoje. Um dos melhores consumidores destes produtos é o Estado Moçambicano, através da saúde, sector militar, as cadeias e outros sectores afins, mas, se estes sectores de grande consumo continuarem a preferir compras de produtos importados, esqueçamos a ideia do relançamento da economia. Se estamos recordados, o slogan “produza e consuma Moçambique” tirou da falência muitas empresas nacionais, foi quando se introduziu o selo de “Made in Mozambique” que parece ter caído em desuso.
O terceiro sector de economia a relançar, na minha opinião, seria o Turismo. Não há dúvidas de que o Turismo é o sector transversal, pode e alavanca muitos sectores da nossa economia, ou das economias que levam a sério esta indústria. O Turismo consome quase tudo, desde os bens alimentares de agricultura, os bens do artesanato, oferece emprego a milhares de pessoas, que transportam pessoas e bens, cuida, através dos serviços de saúde, exige formação dos tendentes do sector, enfim, o Turismo pode relançar a economia em muitos sectores da nossa vida.
Dito isto, quis contribuir e reforçar a ideia do Dr. João Figueiredo e suportada por muito mais colegas do sector privado sobre a necessidade de olhar para Moçambique e sua economia, não somente na perspectiva de “enxugar” os recursos financeiros disponíveis para evitar a inflação, mas e sobretudo, fazer com que os recursos financeiros disponíveis e meio estéreis na Banca Central sejam usados para alavancar a nossa economia.
PS: Dedico esta reflexão ao meu amigo e jovem empresário Eder Pale. Abraço.
Adelino Buque
EDUARDO WHITE, 60 ANOS, escreve Nelson Saúte

“porque cedo me deram a poesia, essa voz cândida, funda, pela qual empobreço escrevendo versos”
Eduardo White (Os Materiais do Amor seguido de O Desafio à Tristeza)
Eduardo White foi, provavelmente, entre os poetas da minha geração, aquele que levou ao extremo o ideário da poesia – da verdade, da liberdade, da justiça e do entendimento – e aquele que viveu ao limite a ideia romântica de ser poeta. Era talentosíssimo, o mais talentoso dos poetas que gravitaram à volta da “Charrua” e que fizeram dos anos 80 o arrimo da sua poesia, da sua rebeldia e da sua afirmação. Era um vulcão em permanente erupção. Um poeta empolgadíssimo que punha nas palavras o acento da sua intrépida paixão pela vida, o seu amor proclamado pela mulher, pela viagem, pelo Índico, pelo Oriente. Mas também poesia sublinhada (ou sublimada) pelos seus fantasmas, as suas aflições ou os seus tormentos.
Indubitavelmente, o mais talentoso, o mais instigante, o mais inventivo, o mais enérgico, o mais fecundo entre todos nós. Era também luminosamente obscuro. Ou obscuramente luminoso. Escreveu hinos, versos, epifanias. Foi visitado pelos deuses. Testemunho disso: as inspirações, as visões, as centelhas. Escreveu imenso. Trabalhou duramente. Era também um obstinado esteta. Um artífice da palavra. Era fervoroso, vibrante, arrebatado. Poderia ser, ao mesmo tempo, obcecado, truculento, feroz. Escreveu soberbamente. Era um poeta encantado pela língua, pela poesia, pelo destino e pela loucura de ser poeta. Viveu em permanente sobressalto. A sua poesia era um sobressalto continuado. Era lírico, engajadamente lírico. Os problemas do seu tempo e da sociedade não lhe eram alheios, antes pelo contrário. Era um poeta do amor que não virava costas à realidade social. Não suportava as desigualdades, aviltava a mediocridade. Cauterizou sempre a mediocridade e foi cortante com a mediania que trespassa o devir moçambicano.
Eduardo White fez da poesia um acto de combate. Um acto de rebeldia. Um acto de liberdade. Ele propugnava a liberdade livre. Um poeta tem de ser isso mesmo: um homem livre. Livre diante das palavras e do seu tempo, e dos homens e do seu tempo. A liberdade poética de Eduardo White está na origem de algumas das mais belas páginas da nossa lírica. Inscreve-se entre os que estão no cume dessa invenção e dessa aventura de ser moçambicano. Mas era, simultaneamente, um grande poeta da língua portuguesa.
A sua vastíssima obra iniciou-se com um livro que foi uma pedrada no charco. Amar sobre o Índico, editado em 1984 pela Associação dos Escritores, tinha o autor 21 anos, em que escreve “Felizes os homens / que cantam o amor. // A eles a vontade do inexplicável / e a forma dúbia dos oceanos”. Aqui parece produzir-se um ideário e um programa. A esta distância, estes versos parecem pacíficos. No entanto, nos anos em que foram escritos, em que deram corpo, voz e rosto a um poeta (Eduardo White), não poderiam ser mais resolutos. Vivíamos os tempos da revolução e numa circunstância em que os seus prosélitos não anteviam outra possibilidade senão os amanhãs que cantam.
White e a sua geração denegaram a incumbência de cantar a revolução, ou até a luta armada. Não se assumiram ufanos, nem fizeram da Pátria um destino ou uma desinência, mas sim a poesia e a liberdade do indivíduo num tempo e num contexto histórico em que o assomo colectivo e colectivista não admitia nenhuma contradita. Escrever sobre o amor era, por assim dizer, uma sedição.
O seu segundo livro decorre de uma contingência: o hediondo massacre de Homoíne, em 18 de Julho de 1987. A nossa amnésia condescende até com a barbárie. Somos um povo resignado. Num magro volume, de um poema em oito partes, justamente intitulado Homoíne (1987), Eduardo White recusa o anátema: “Os nossos mortos são muitos, / são muitos os nossos mortos / dentro das valas comuns” e este seu gesto é (também) a negação do “pássaro lento do esquecimento” dessa “morte explodindo como um tiro” e desse “impiedoso silêncio”: “Mas o que os mortos não sabem nem imaginam, / é que no coração dos que ficam, no coração dos vivos / inteiros permanecem e decididos VIVEM.”
O terceiro livro, obra do seu amadurecimento, surge em 1989: O País de Mim. O amor, de novo: “Eu já amava e escrevia versos / nas paredes do útero da minha mãe”: “Assume o amor como um ofício / onde tens que te esmerar”. A mulher (“MULHER! / Essa palavra que só secreta / cabe na boca / e que apetece tê-la, constantemente, / a meio da língua”). O corpo (“Teu corpo é o país dos sabores” ou “teu corpo essa casa feliz”). As palavras: “Não gosto do pudor de certas palavras”. O Índico: “És o Índico – numa tarde quente de Janeiro”. A morte. “Quando morrer / quero fazê-lo sem rumor algum, / sem ninguém que me chore / ou a quem doa”.
A morte, depois de Homoíne, irrompe brutalmente na poesia de Eduardo White. Neste livro, é vista como “nocturna ave”. A ave e o voo serão sintagmas importantes da obra subsequente. Mas a morte aqui é impressiva: “Diário é também / o ofício da morte neste país / essa gangrena de fome e de sede / e de desentendimento”. Quase quatro décadas depois, estes versos permanecem dilacerantes, verdadeiros e actuais. Perturbadores, avassaladores. Diria que este livro – O País de Mim – está nessa bissectriz entre o amor e a morte: “E aqui estamos, amor, vivos / na nossa morte”.
Em 1992, Eduardo White publica Poemas da Ciência de Voar e da Engenharia de Ser Ave. Retorna à prosa poética que publicara esparsamente nos meados dos anos 80. Na “Gazeta” da ínclita Tempo haveria de publicar, naqueles ominosos anos, um belíssimo texto inédito em livro: “O país de Inês” (1986). No tempo em que lhe era hodierno, o poeta apostrofa: “Eu não posso morrer qualquer dia com todo este desconhecimento sobre as aves. Peço licença à poesia. Quero-as voando em meus versos e também um mar e dois ou três navios que se achem por perto que desmereça toda a beleza disso deixai que escreva pois a vontade prevalece e queima”.
A morte ronda este livro. Mas também a fuga à realidade obsidiante. “Podemos sonhar sem limites mesmo que a insónia nos castigue”. A vontade da escrita: “Uma mão relampeja na casa da escrita.” “Escrever é uma droga antiga, / uma bebedeira que queima com lentidão / a cabeça, / traz as luzes desde as vísceras, / o sangue a ferver nas vias tubulantes, / traz a natureza estimulante das paisagens / que temos dentro.” A loucura de ser poeta (“Dá-me aquela secreta mão de Deus” ou “este desejo irrevogável do meu poeta”). O dom do voo e a oferenda da escrita: “Voar é uma dádiva da poesia.”
A recusa da morte. A morte, sempre. A morte interior. Ou, se quisermos, o milagre da vida, em anteposição. “Voar é não deixar morrer a música, a beleza, o mundo e é também fazer por escrever tudo isso”. Os assombros do poeta. Os pavores do poeta. Os seus desesperados. Os seus “sonhos terríveis”. Os espantos do poeta.
Os Materiais do Amor seguido de O Desafio à Tristeza (1996) traz os sinais da viagem ao Oriente: “Amo-te sem recusas e o meu amor é esta fortaleza, esta Ilha encantada, estas memórias sobre as paredes e ninguém sabe deste pangaio que ao Norte e na Ilha traz um amante inconfortado.” Mas é também o lugar “onde igualmente possa chorar a minha trágica fatalidade de poeta”. Ou o lugar da beleza, da poesia e da mulher: “tu que és uma mulher e explodes pela beleza de ser isso.”
Eduardo White: “Todos os dias enlouqueço de uma loucura qualquer, de qualquer sentido doente que sobre o meu sangue se curva. Todos os dias tenho perguntas para tudo e não tenho respostas nenhumas e a minha mente, que é carnal de medo e memória sem propósito, não descansa.” Ou: “A vida que é um suposto mal entendido como, aliás, eu próprio.” Ou ainda: “Estou cansado de trazer este peso comigo, este abismo para onde me atiro”. Isto é terrível. Mas o que vem a seguir é ainda mais assombroso: “Por isso é que deixei que os versos me desvanecessem a juventude até onde podiam”.
White: “Por isso é que não existo como um número e o Estado não me dá importância devida. Por isso é que sou liberal só nas coisas em que tenho que ser liberal. Por isso é que a polícia me vigia. Por isso é que não há tranquilidade para quem se põe a escrever. E por isso também é que pergunto porque escrevo e que sentido é que terá a escrita dessa maneira que ninguém a lê. Por isso é que as respostas não existem e eu estou aqui a matar-me sem razão aparente para o fazer”.
A resposta a esta tremenda questão encontrá-la-emos no livro ulterior – Janela para Oriente (1999) – “Escrever é uma razão forte, é uma audácia profunda”, “Não quero outra coisa senão este mistério em que me invento”. O poeta estabelece nesta obra outro cume da sua invenção. “Para que precisa um poeta de glória quando não pode escrever?” Este é um belíssimo hino à condição do Índico e da vontade do Oriente. Mas também um solilóquio de um poeta aturdido com o destino do mundo e do homem. Um homem solitário no interior da poesia. “Mas eu não suporto a solidão, reconheço-o , não suportar estar só com tanta clareza, com tanta consciência.”. Um poeta que reconhece a realidade contraditória em que vive. “No fundo o Oriente é o desejo transbordante de tão súbito desespero, uma fuga ao enclausuramento.” “O Oriente é também uma ambição”: “A janela do quarto de onde escrevo é de um esplendor que dá vontade de saltar por ela”.
A poesia de Eduardo White torna-se mais ontológica, reflexiva, doutrinária e questionadora. Em Dormir com Deus e Um Navio na Língua (2001) permanecem as inquietações: “Vivo intensamente todos os dias esse milagre de não parecer estranho o que se parece estranho em mim, porque posso perguntá-lo, tentar conhecê-lo porque posso traduzi-lo traduzindo-me”. A língua é também um território de pertença: “Preciso dela, pois é tudo o que tenho como ferramenta e como trabalho, como propósito e intuição. Escrevo para que se entenda”. White amou implacavelmente a língua, a sua língua. Amou como poucos a língua portuguesa: “Doer-me-ia se tivesse que viver exilado dela, morreria se a ela fosse impossível voltar.” Não há muitos como ele, entre nós, que se tenham elevado tão assim no canto desta língua: “Tem uma origem divina esta língua quando a pronuncio e me embevece, um bálsamo pra o que choro”. Isto é de uma beleza comovedora. Isto é pungente. Pungentemente belo.
Seguem-se-lhe, na estante de autor, As Falas de Escorpião (2002), O Manual das Mãos (2004), O Homem a Sombra e a Flor e Algumas Cartas do Interior (2004), Até Amanhã Coração (2007), A Fuga e a Húmida Escrita do Amor (2008), Dos Limões Amarelos do Falo às Laranjas Vermelhas da Vulva (2009), A Mecânica Lunar e a Escrita Desassossegada (2012), O Poeta Diarista e os Ascetas Desiluminados (2012) e o epílogo Bom dia, Dia! (2014). De permeio, O Libreto da Miséria (2010). As mesmas inquietações. O mesmo destino de ser poeta. “Um poeta não é para se perceber, é para sentir-se” (O Manual das Mãos). A aspereza desse fatalismo. “Aqui ninguém liga peva à poesia. Nem à poesia e nem a outra coisa nenhuma que cheire a cultura.” Canta o destino do poeta: “Nos poetas cada palavra tem o seu milagre”, mesmo diante da realidade acerba. Aliás, sobretudo diante da rudeza ou acrimónia da realidade.
Diria, como súmula, que o poeta Eduardo White contraditou, obstinadamente, essa realidade brutalmente áspera, agreste, rude, dura, insensível, severa, insensível. Aliás, se quisermos intuir o sentido da sua poesia, do seu alto canto e do seu destino foi uma implacável contestação dessa realidade, foi uma objecção permanente, um questionamento, uma indagação e uma demanda constante. Um poeta amante da vida e do amor. Amante da sua loucura de ser poeta.
Poeta apaixonado, arrebatado e arrebatador, efusivo e fervoroso, amante feroz da mulher e do seu corpo, da língua e do seu destino, navegante do Índico e do Oriente, implacável contra a morte e esse “pássaro do esquecimento”, oficiante da língua e esconjuro da morte, ele divisou a vida e a fortuna da poesia como a “vontade do inexplicável” e “a forma dúbia dos oceanos”.
Amou a língua e os poetas. Amou Rui de Noronha ou Jorge Viegas, José Craveirinha ou Glória de Sant’Anna, leu Rui Knopfli ou Luís Carlos Patraquim, leio-os com método, foi indefectível de Sophia de Mello Breyner Andresen, Herberto Helder, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, Vinícius de Moraes ou Fernando Pessoa, viveu a loucura de ser poeta. Aliás, Jorge Viegas, seu conterrâneo, escrevera: “No meu país / a única forma de liberdade permitida / é a loucura”. Eduardo White buscou incessantemente essa liberdade e essa loucura. Viveu como poeta, amou como poeta, morreu como poeta. Teve essa coragem e essa afoiteza. Foi capaz da contradita, da sedição. A poesia foi nele um gesto de audácia. Os versos do poema 60 de O País de Mim parecem inscrever, na pedra angular do tempo, esse destino indesmentível de poeta e esse tom irrevogavelmente elegíaco: “Estamos na morte com o mesmo encanto e com a mesma mestria com que estivemos na vida.” São premonitórios. O poeta declinaria a 24 de Agosto de 2014, aos 50 anos. Viveu até ao fim com estrépito. Celebrou sempre o milagre da vida. Com ímpeto, com arroubo, com veemência. Recordo-o assim: a sua coragem e a sua euforia de ser poeta. A sua alegria, também. A sua fúria. A sua bebedeira até ao fim, embriagado pela vida e pelo amor. Tinha nascido, em Quelimane, a 21 de Novembro de 1963, passam hoje, precisamente, 60 anos.
Cidade do Cabo, 21 de Novembro de 2023
Temos matrecos dentro e fora dos campos! Quem é culpado?