Carta de Opinião
Peço um pingo de chuva... para molhar a garganta seca*

Percorri todos os bairros da cidade de Inhambane a ver se encontrava algum fontanário para lavar as mãos e molhar a cabeça... nada! Lembrei-me que havia um na Fonte Azul, construído em 1964. Desatei a correr e constatei que apenas sobram as amostras das ruínas. Fui ainda impelido a subir até a Escola Primária Primeiro de Maio, agora não propriamente para lavar as mãos e molhar a cabeça, mas empurrado pela necessidade de reviver a históriia, e também não encontrei nada.
Já tinha passado pela Praça dos Trabalhadores, na esperança de molhar o espírito e a alma com a água cuspida pelo repucho, porém fui recebido pela estiagem. Lembro-me do regalo que era todo aquele espaço da rotunda que nos fazia esquecer momentaneamente as agruras da vida, e hoje nem um pingo de água esvoaçando, nem uma gota no aquário.
Fui à Chalambe ainda com esperança... também nada! Nem aqui, nem em nenhum outro canto da cidade de Inhambane. Vandalizaram tudo, e nunca mais houve reparações. E se os fontanários e os repuchos não funcionam, é como se nós também tivéssemos abdicado da necessidade de refrescar os nossos interiores que andam de corrosão em corrosão.
Na verdade temos problemas sérios de formação como pessoas urbanas, é preciso reconhecer esse nosso défice. Fica a impressão de que não gostamos do belo, não temos capacidade de preservar as relíquias, aquilo que faz parte de nós e nos faz bem. Não seria imperioso, por exemplo, colocar cercas nos jardins para que as pessoas pisem a relva, se não tivessemos problemas de educação. Então, reconstruir fontanários se calhar pode vir a ser um trabalho inglório, mas não podemos continuar assim, é preciso recomeçar, a vida é um eterno recomeço.
As crianças jogam a bola na rua, sem repeito pelos transeutes, pelas pessoas mais velhas. Se você as admoesta, será por elas vaiado. E esta situação de falta de campos surge como resultado da falta de planificação territorial que vai degenarar num dilema: aonde é que os miúdos vão divertir-se!
No meu bairro havia dois ou três emblemáticos campos de futebol recreativo que congregavam a miudagem em tardes de liberdade e de felicidade, todos eles desapareceram, ocupados por habitações. Outro espaço ainda, foi engolido pelos mangais, e dizem-nos para não abatê-los. Ora, se assim fosse desde os primórdios, estariamos até hoje a dormir em cima das árvores, pois acho que é possível fazer uma intervenção sustentável sem prejudicar os ecossistemas marinhos.
Pois é: se temos uma cidade sem fontanários públicos e sem campos para a rapaziada, como é que podemos ser felizes, assim! Porquê que a tendência generalizada é vandalizar os bens públicos e privados? As crianças precisam ser controladas a partir de casa, mas o problema não são só as crianças. Nós também, os adultos, somos assim.
- Título extraído da música de Fernando Luís
Moçambique: Procura-se um Presidenciável!

Moçambique é um país da costa oriental da África Austral que tem como limites: a norte, a Tanzânia; a noroeste, o Malawi e a Zâmbia; a oeste, o Zimbabwe, a África do Sul e a Suazilândia; a sul, a África do Sul; a leste, o Oceano Índico designado por Canal de Moçambique.
Com uma superfície de 799.380 km2, Moçambique possui 30 milhões de hectares de terra arável, mas somente 5,5 hectares é que são usados para o cultivo agrícola.O país possui amplos recursos, fontes abundantes de água, energia, recursos minerais e depósitos de gás natural liquefeito (GNL), recentemente descobertos ao largo da sua costa. O país tem três portos marítimos profundos e uma reserva potencial relativamente grande de mão-de-obra.
Segundo o recenseamento de 2022, Moçambique possui 32.97 milhões de habitantes e, destes, 60% sabem ler e escrever. O país possui ainda um total de 53 instituições de ensino superior, sendo Universidades: nove públicas e 10 privadas, Institutos Superiores: oito públicos e 19 privados, Escolas Superiores: duas públicas e duas privadas, Academias: três privadas. Muito dificilmente, poderei contabilizar o ensino médio e primário nesta reflexão, entretanto, é preciso lembrar que, nos primeiros anos de escolaridade, o ensino é gratuito.
Moçambique possui 61 Partidos Políticos e 14 Coligações Partidárias, segundo dados de 2019, sendo que, neste ano, teremos eleições Presidenciais, legislativas e Provinciais. Os partidos políticos estão a par desta importante agenda política, no entanto, até hoje, 03 de Maio de 2024, nenhum partido possui um candidato para cada uma destas eleições, o que, de certa forma, mostra que o sistema político moçambicano pode estar em decadência!
A Frelimo, partido no poder, tem estado a ensaiar aprovar seus candidatos a candidato sem sucesso e, de tanta excitação, o número de interessados subiu de forma exponencial. São muitos membros que se acham presidenciáveis, o que chega a “banalizar” a função de Presidente da República. Mas, atenção, isto não é culpa dos que se acham presidenciáveis, mas culpa interna nos partidos políticos.
O segundo partido do país marcou o seu congresso por força de queixas nos Tribunais nacionais, exactamente para a escolha do seu candidato, ou seja, tem sido difícil encontrar candidatos às presidenciais em Moçambique. A questão que se coloca é: porque será?
Uma leitura empírica pode levar-nos a concluir que, nos diferentes partidos, por motivos pouco claros, existe o receio de mudanças. Há uma tentativa de as pessoas agarrarem-se aos lugares de poder e não querem mudanças, sobretudo, ao nível das lideranças.Na Frelimo, por exemplo, um partido sexagenário, não é aceitável, aos olhos do eleitor, ainda que não seja membro da Frelimo, esta falta de definição de quem é quem!
Os dirigentes da Frelimo têm-se desdobrado em desculpas, que se pode considerar, desculpas de “mau pagador” como sói dizer-se em gíria popular, porque são justificações que, se ao seu nível são aceitáveis, do ponto de vista público, pura e simplesmente, são inadmissíveis. Lembre que hoje, 03 de Maio, a Frelimo, finalmente, é suposto ter os seus candidatos a candidatos, de onde sairá um candidato efectivo a Presidente da República. No entanto, ontem, 02 de Maio, é que deveriam ter saído esses pré-candidatos e não saíram até à noite. Porquê!
Definitivamente, a atitude dos partidos políticos nacionais é de difícil compreensão e, aqui, não está em causa se é partido no poder, se é partido parlamentar. Nenhum de todos os 61 partidos registados apresentou candidato e tão pouco partidos pequenos se aproximaram entre si para efeitos eleitorais. Isto é de lamentar e é preciso dizer que é difícil encontrar pessoas Presidenciáveis em Moçambique!
Adelino Buque
Frelimo, não faça mais isso. Não gostei!
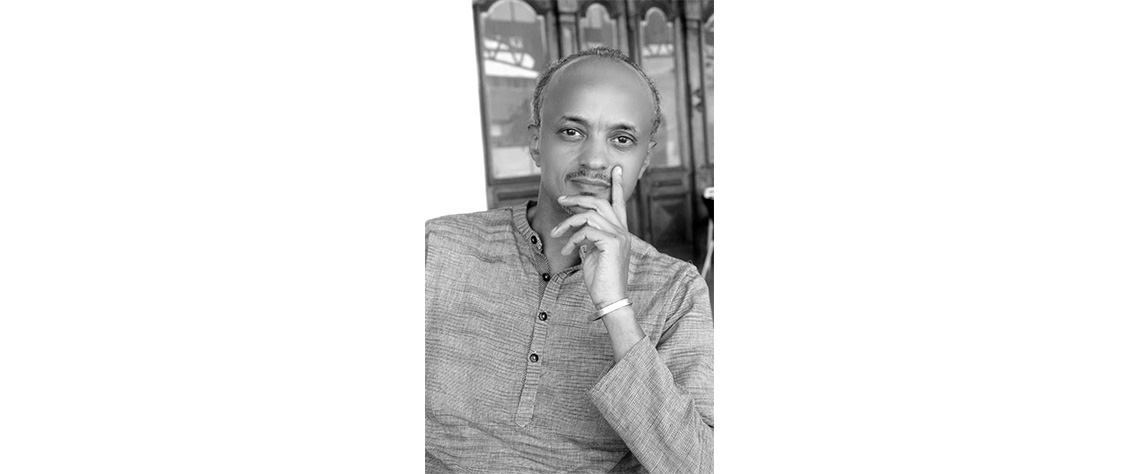
“Paulo, não faça mais isso. Não gostei!” Fora mais ou menos nestes termos que uma cota (avó) dirigiu a fala ao músico português Paulo Gonzo no final de um seu espectáculo. Ela reclamava o facto de o cantor ter deixado que o público cantasse a solo as suas músicas, sobretudo as que ela mais adorava e que a fizeram ir ao espetáculo.
Este episódio ouvi contado pelo próprio Paulo Gonzo numa entrevista, tendo acrescentado que no final da fala a cota ainda disse que "Eu paguei o bilhete para te ouvir cantar". Desde então que Paulo Gonzo não deixa que o público o substitua.
Conto isto a propósito do enredo para a escolha do candidato do partido Frelimo a Presidente da República em que a Frelimo reedita Paulo Gonzo ao deixar que a sociedade assumisse a vanguarda do debate para a escolha do seu candidato.
Diante da semelhança e do que será o desfecho da sessão extraordinária do Comité Central da Frelimo para a eleição do seu candidato presidencial para 9 de Outubro, expecto que a cota, numa versão moçambicana, procure o partido Frelimo, ainda no camarim, e diga: “Frelimo, não faça mais isso. Não gostei!”
PS: Nos termos da alínea l) do nr 3 do artigo 71 dos Estatutos do Partido Frelimo cabe ao Comité Central “Apreciar e aprovar as propostas da Comissão Politica referentes as candidaturas da FRELIMO ou por ele apoiadas a Presidente da República”. Nos mesmos Estatutos, compulsando as competências da Comissão Política (artigo 76) com os olhos de São Tomé, nada consta, expressis verbis, de que a esta recai a competência de elencar e endossar tais propostas. Salvo melhor entendimento, é um detalhe, com potencial para gerar emoções, que já merecia que razão fosse chamada para intervir.
Sou Mais pelo Outro 25, o de Junho

Quando se fala na efervescência de "25", muitos se recordam imediatamente da Revolução dos Cravos de Portugal. Contudo, é outro "25" que faz o coração deste pedaço de terra chamado Moçambique bater mais forte – o 25 de Junho, dia em que celebramos nossa independência, a verdadeira emancipação do jugo colonial que por séculos tentou sufocar a rica tapeçaria cultural que define a nossa nação.
A independência de Moçambique não é apenas um marco político, mas um grito contínuo de expressão e valorização da nossa identidade. É o reconhecimento da potência das nossas línguas nacionais, como o Emakhuwa, o Elomwe, o Cisena, o Cishona, o ndaw e tantas outras vozes que compõem a melodiosa sinfonia de nosso povo e de seus hábitos bantu. Estas línguas são veículos de nossa história, transportando tradições, sabedorias e o espírito inquebravel dos moçambicanos.
Nossa gastronomia é um universo de sabores que desafia qualquer tentativa de dominação neocolonial. Os aromas do caril de amendoim, do frango à zambeziana, da nhemba e da mathapa, são testemunhos de uma culinária que soube adaptar influências externas sem perder a essência de suas raízes. Em cada prato, celebra-se não apenas a alimentação, mas a resistência de uma cultura que se recusa a ser homogeneizada.
Na música, artistas como Zaida Bacar, Zaida Chongo, Madala, Stewart Sukuma e grupos como Ghorwane, têm sido o reflexo da nossa diversidade sonora, misturando ritmos tradicionais com influências modernas, resistindo à hegemonia cultural e reafirmando a música como forma de resistência e afirmação cultural. A marrabenta, por exemplo, mais do que uma dança ou estilo musical, é a expressão da nossa alma resiliente e jubilosa.
Artisticamente, Moçambique tem se destacado através de figuras como Malangatana Ngwenya, Mia Couto, Chissano, ou a Renata cujas obras desafiaram a narrativa colonial e capturaram os anseios, lutas e alegrias do povo moçambicano. Cada pincelada de Malangatana, cada estrofe ou prosa é um testamento da nossa luta contínua pela soberania cultural diante de influências externas que buscam diluir nossa identidade.
Religiosamente, Moçambique é um mosaico de crenças que coexistem, demonstrando o respeito pela diversidade espiritual que é central para a nossa coesão social. Esta convivência entre diferentes religiões também simboliza a nossa rejeição ao imperialismo ideológico, seja ele de natureza cultural ou religiosa.
Em contraposição ao neocolonialismo subtil e à dominação simbólica ainda presentes no mundo de hoje, a celebração dos 50 anos da independência de Moçambique no dia 25 de Junho é uma lembrança contínua da nossa soberania por afirmar, da nossa resiliência e do nosso compromisso com a preservação e valorização da nossa rica herança cultural. Devemos ser, sim, mais pelo nosso 25 de Junho, pois ele representa a nossa alma, a nossa luta e o nosso futuro. Longa vida a Moçambique, livre e soberano!
CARTA à minha querida Luísa Diogo... outra vez

Olá, meu bem.
Sabe, Lulú, a impressão que tenho de ti é que és ouro filtrado no fogo. Já te disse isto muitas vezes, todavia não me canso de repetir. Cada vez que chegam estes dias de facas e baionetas e balas, vens-me à memória. Fazes-me lembrar aquela história da cobra e do pirilampo, em que o réptil, perdido numa noite escura, desconsegue reconhecer o caminho de volta para a casa. Então, olhando para cima atordoada, vê o pirilampo vertendo luz no espaço, e pensou logo que naquele insecto de nada estaria a sua salvação.
Pois é! A cobra gritou no seu abominável rastejar e disse, Pirilampo, bem-aventurado, estou perdido nestas trevas, não vejo o caminho de casa, poderá você ajudar-me? E o pirilampo não se fez de rogado, orientou o rastejante até a toca. Porém, chegados à casa da cobra, esta vira-se para o pirilampo e diz: agora quero te matar! Mas matar-me porquê? E a cobra sibilou com cinismo: porque você brilha.
É isso, Lulú, meu bem, você brilha e brilhará para sempre, nem que as nuvens desejem ofuscar-te. É como uma mulher corcunda, mesmo que caminhe numa baixa, a corcunda vai-se ver, e você jamais caminhou nas sombras das baixas, jamais. As estrelas cintilam nos Céus, na glória do Criador.
Lulú, não trema minha querida, a águia foi criada em nome da liberdade, por isso plana constantemente ao encontro da luz. E aqui no chão, em pouso, o pirilampo sabe esperar pelo seu tempo, que será demonstrado nas alturas com a vocação de mostrar caminhos. Os guerreiros de Nhabulebule não cansam.
Lulú, minha querida, tens asas? Ninguém vai decepá-las, nem os leões que rugem nas jaulas, não com sede de te devorarem, mas com medo de que você os devore. E o que você traz nas mãos não são farpas, são harpas. É por isso que o teu sorriso fácil nos faz acreditar em novas melodias e em mesas fartas para todos. E esse dia vai chegar, Lulú, onde serás proclamada trovadora do povo, pois na verdade falta-nos a música para depois das refeições que não temos, nem sequer uma, e ainda nos dizem que temos três por dia! Que crueldade!
Lulú, não desisto de ter fé na catarata de Nhabulebule, não sei porquê. Já me perguntaram várias vezes por que acho que você será amanhã a nossa bandeira, e a minha resposta tem sido o poema de Jorge Rebelo: por mais que seja longa a noite, a verdade é que há-de amanhecer. E nesse dia as corujas de Nhabulebule vão bailar, espalhando a dança até Mavago, Inhassunge, Paquitequete, Chifunde, Bárwè, Machanga, Nhassoro, Chókwè, Matutuine.
Então nós também vamos esperar contigo pelo dia das garrafas de champanhe. Que irão explodir em todo o chão de Moçambique.
Uma presidencial dica para um presidenciável de 9 de Outubro
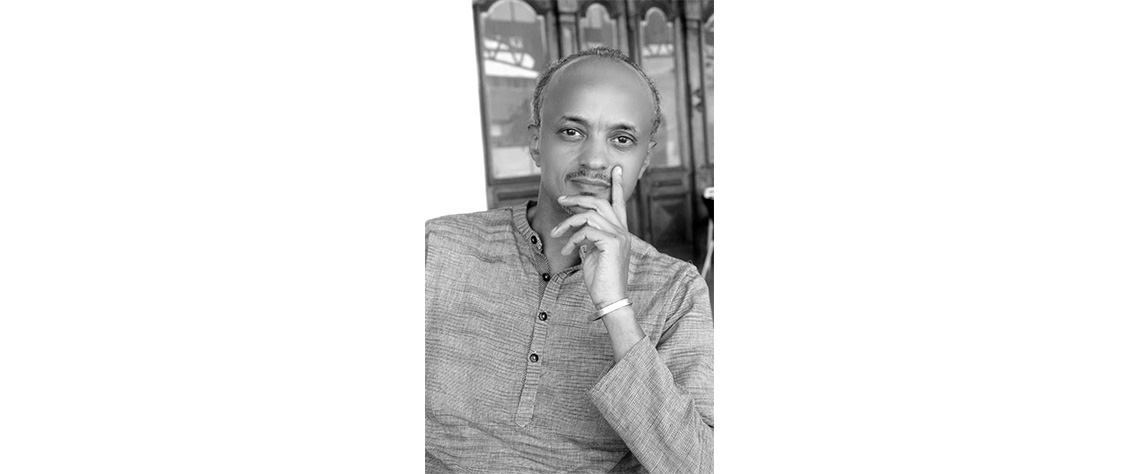
O debate sobre o perfil ideal do candidato para o cargo de Presidente da República (PR) continua. Os três partidos com assento parlamentar e outros círculos da sociedade já avançaram com algumas propostas. O actual PR deu uma dica para o debate.
A dica do PR para o perfil de um seu sucessor decorre de uma sua recente queixa sobre os elevados custos do ciclo eleitoral. Para ele o dinheiro usado em processos eleitorais podia ser aplicado na protecção do país através do equipamento das Forças de Defesa e Segurança (FDS).
Uma vez que desde 1994, ano de início de processos eleitorais multipartidários, o país ainda continua com carências que se refletem na resposta do combate ao terrorismo em Cabo Delgado e no seu processo de desenvolvimento económico e social depreende-se da queixa que desde então os sucessivos presidentes têm falhado.
Para o PR, ainda escorrendo sobre a queixa, a possibilidade de realocação do financiamento eleitoral para a protecção e o desenvolvimento do país não significa necessariamente a suspensão das eleições, pois estas são inevitáveis em democracia, mas que o financiamento ao Estado seja feito num quadro em que o país também possa estar melhor protegido e desenvolvido.
Sendo assim, e do exposto, fica a dica presidencial para um presidenciável de 9 de Outubro próximo: alguém cujas valências possa articular soluções que deixem o país mais democrático, mais protegido e mais desenvolvido no final do seu mandato.
PS: Sobre os elevados custos das eleições, ouvi, uma ou mais vezes, o presidente Joaquim Chissano contar que alertara sobre esse facto à então e falecida PM britânica, Margareth Thatcher, na altura da introdução do sistema multipartidário em Moçambique.
Em resposta, e que eventualmente sossegara a Chissano, presumo pelo histórico das eleições do país que Margareth Thatcher, diplomaticamente, perguntara a Chissano se não conhecia a expressão “Just for English People To See” (É Só Para Inglês Ver).











