Blog
Unanimidade nas promessas eleitorais: ludibriando e burlando eleitores?

Diz-se, entre políticos ilusórios, que as eleições são momento de festa da democracia, entretanto, verdades podem ser reveladas por controvérsias entre partidos e candidatos. É raro que os partidos políticos, candidatos presidenciais ou candidatos independentes tenham pilares e agendas similares. O comum na competição eleitoral é a diferença nas perspectivas, agenda e avaliação do regime do dia. Da tradição política, os candidatos à sucessão tendem a trazer discurso de continuidade e melhoria, porém, é incomum o que ocorre na competição para as eleições presidenciais e legislativas de 2024 em Moçambique. Nestes casos, a competição pode tornar-se momento de desabafo, fúria e falsidades.
O atípico da agenda pós-Nyusi e, porventura, da Frelimo como um colectivo, é de resgate, revolução e prosseguimento. A Frelimo tenciona resgatar os valores que o partido destruiu e seguir sempre em frente. A Renamo pretende usar das suas vassouras para limpar o estado moçambicano que se encontra infestado desde 1975. O Movimento Democrático de Moçambique (MDM) pretende trazer ao Povo moçambicano o desenvolvimento que a Frelimo não conseguiu desde 1975. Finalmente, Venâncio Mondlane pretende escangalhar a actual perspectiva de governação e desenvolver um estado livre da corrupção, do amiguismo e da partidarização. Parecendo agendas diferentes pelos termos usados, na essência, os candidatos estão em uníssono pela necessidade de resgate do que foi perdido ao longo do tempo e preservar o que pode ser de bom uso. Entretanto, um aspecto particular, é da incongruência entre o resgate, o curso e o futuro no seio da Frelimo.
Ora, Frelimo pretende resgatar os valores perdidos no seio do partido. Nas palavras de líderes do topo e influentes da Frelimo, Daniel Chapo “sabe ouvir”. A análise de resgate dos valores do partido é complexa pela falta de objectividade, o que pode resvalar em dissonância na análise. No entanto, os discursos de Graça Machel, Joaquim Chissano e Armando Guebuza, que são figuras proeminentes da primeira geração de governação da Frelimo, desde o monopartidarismo – entre 1977 e 1990, bem como do multipartidarismo, desde então, são contraditórios. Ora, do resgate dos valores da Frelimo, é implícito que em algum momento da sua governação e liderança, o partido Frelimo descarrilou e se estagnou. Identificar a altura em que o partido perdeu valores é de debate complexo no ambiente extra-partidário, porém, óbvio é que as três figuras estiveram nos mais altos órgãos do partido e do Estado moçambicano. Qual será então o marco da perca de valores na liderança de Chissano e Guebuza, bem como da proeminência de Graça Machel?
Assumir a actual liderança, encabeçada por Filipe Nyusi, como marco do desvio de valores é especulação. Não se sabe, do ambiente extra-partidário, qual tem sido a gestão do poder e dos valores “daquela Frelimo que pretendia servir o povo”. Se é da presidência de Chissano, de Guebuza ou também da proeminência de Graça Machel, o explícito é que eles desviaram e desrespeitaram o rumo do seu partido, daí que seu mérito na campanha eleitoral é duvidoso. Das poucas tentativas de argumento de desvio, seria da candidatura de Samora Machel Jr sem anuência da Frelimo para as eleições autárquicas na Cidade Maputo em 2018. Seria legítimo concluir que Machel Jr tivesse se apercebido da perca de valores do partido e, assim, tomar tal decisão de candidatura fora da Frelimo, em defesa dos valores “perdidos” do partido. De qualquer forma, talvez seja legítimo que a liderança do partido explicasse ao eleitorado, o momento da perca de valores. Chissano, Guebuza e Graça Machel, figuras activas no partido e na campanha eleitoral, devem explicação ao povo moçambicano.
A Frelimo e seu candidato, Daniel Chapo, apresentam dois lemas: “vamos trabalhar” e “Moçambique para Frente.” Ademais, em forma de apêndice, figuras proeminentes do partido, como os presidentes honorários, Joaquim Chissano e Armando Guebuza, bem como ex-ministra da educação e cultura Graça Machel, afirmam em uníssono que Chapo “sabe ouvir” e este é momento crucial para resgatar os valores perdidos no seio da Frelimo. Encontra-se uma dissonância entre “Moçambique para frente” e “resgate dos valores perdidos” no seio do partido, mesmo havendo necessidade do “vamos trabalhar.” Ora, do resgate, avanço e trabalho, está explicito que, em algum momento, o partido não trabalhou e ficou estático. Não seria desarmónico Chapo “sabendo ouvir”, o que ser-lhe-á dito por seus antecessores? Dos discursos, tanto de Chapo, como dos seus antecessores, procura-se simultaneamente recuar para o resgate e avançar. Para alcançar qualquer dos fins, “vamos trabalhar”, significa que Chissano, Guebuza, Graça Machel e seus camaradas, foram preguiçosos e inertes.
Apartando-se o lado individual das três figuras, com o apoio de Samora Machel Júnior, a Frelimo sempre obteve maioria na Assembleia da República. Aliás na legislatura que está a findar, o partido teve maioria absoluta que permitiu que o partido optasse pela alteração do dispositivo constitucional que previa eleições distritais, adiando-as sine die. Nas anteriores legislaturas, a Frelimo obteve maioria que, sem dificuldades, aprovou legislação, planos e definiu políticas. Um questionamento, mais uma vez, é sobre o momento em que a Frelimo teria descarrilado, aprovando legislação ou políticas que fossem contra seus valores. Se Chapo “sabe ouvir”, talvez fosse justo e harmónico que seus camaradas optassem pelo silêncio, visto serem de legitimidade duvidosa para serem ouvidos pelo candidato que pretende um Moçambique seguindo em frente através do trabalho.
Moçambique sempre foi estado de regime presidencialista, com ou sem exageros de visibilidade do presidente e seu colectivo partidário. Se assim sempre foi, em que momento terá o partido perdido seus valores sem anuência tanto individual como colectiva. Se “saber ouvir” é valor do partido, resta a Daniel Chapo filtrar do que é dito, principalmente de Graça Machel e dos honorários presidentes Chissano e Guebuza, sob pena de manter o partido fora dos valores do mesmo. Aliás, Daniel Chapo talvez tenha que parar de ouvir para evitar prometer acções fora das suas competências. Chapo pretende combater erosão nos municípios, prover água nos municípios, construir estradas e outras infraestruturas municipais. Qual foi, então, a necessidade de criação de edilidades? Talvez seja por apetência ao poder, mas se for por resultado do “saber ouvir”, seria justo não os ouvir.
Os eleitores são geralmente emocionados nas jornadas eleitorais e podem deixar passar mensagens com as quais não concordam. Mas estes eleitores não são tolos, muito menos os edis que podem estar somente acompanhando a onda da campanha do seu partido. Será que concordam com a eliminação das suas competências nos municípios a favor das pretensões de Chapo? Se for o caso, com que tipo de democracia Chapo fará nos municípios governados por outros partidos? Quem promete deve, mas como político em campanha, é permissível mentir, desde que não burle sobre matéria que não é da sua competência e nem depende de si. Chapo está a prometer violar a Constituição da República, mas enquanto os eleitores aplaudem discursos de tal conteúdo, a tolice é duvidosa.
Tal como outros candidatos, Chapo promete transferir ou criar capitais. Mocuba irá hospedar a Assembleia da República de Moçambique; Vilankulo tornar-se-á capital turística; Pemba tornar-se-á capital turística; Niassa capital da agricultura, Nampula será capital económica. Com excepções, a história revela que as capitais de órgãos políticos são definidas por ditadores ou fenómenos políticos atípicos. Não é por acaso o exemplo de Brasília, no Brasil, aprovado no regime de Juscelino Kubischek. A Alemanha do pós-segunda Guerra Mundial ficou dividida e, em resultado, Berlim e Bona como capitais, o que se dissolveu com o fim da Guerra Fria. A Tanzânia tem Dodoma como capital administrativa resultante de um longo processo de transição e discussão sobre a fusão da parte continental com Zanzibar. Mesmo assim, a transferência da capital política de Dar-es-Salaam, mantém o estatuto de capital económica por força da economia, e não da política. Outra complexidade sucede com Nova Iorque, que é capital económica do mesmo Estado, dos Estados Unidos, e do mundo, mas Syracuse é a capital política do Estado de Nova Iorque, enquanto Washington, DC, território cedido por Maryland e Virginia, é a capital política dos Estados Unidos.
Em democracias, contrariamente ao que Chapo promete da transferência do Parlamento para Mocuba, tal decisão é definida primariamente pela elite político-económica. Se apostar pelos princípios democráticos, estará preparado para debate nacional para tal tomada de decisão e implementá-la em cinco anos? Terá o candidato Chapo feito negociação com a elite da Frelimo, habituada ao luxo dos centros urbanos, com centros comerciais para transferirem suas actividades ao “mato” de Mocuba? Garantir tal promessa é burla política que não está no manifesto da Frelimo. Aventando a possibilidade de ditadura, como sugere da retirada do poder dos edis, terá capacidade para fazê-lo em cinco anos? Entre emoções eleitorais, não haverá aqui burlas e ilusões? E a todos os candidatos, para onde vai a capital económica senhores políticos?
Uma capital económica não é transferida, mas sim construída em resultado do ritmo da economia para o desenvolvimento. Investimento não resulta de discurso político e o mesmo país não pode ter mais do que uma capital do mesmo bem ou serviço. É incongruente o discurso de Vilankulo e Cabo Delgado serem ambas capitais turísticas, nem Niassa e Manica, ambas se tornarem capitais da agricultura. Que investimentos tornarão esses locais capitais de tudo? Não serão ideias para ludibriar os eleitores num discurso de resgate, sempre em frente, mesmo com o “vamos trabalhar”? A ideia de capitais para quase tudo, na verdade, revela discursos inconsistentes.
Na unanimidade que os candidatos comportam. Daí que vós candidatos, podem mentir, mas as ondas de capitais para tudo na campanha eleitoral, parecem exposição de sevícias, burlas e ilusões no chamado “momento de festa da democracia.” Promessas sem premissas fundamentadas, nem avaliação de exequibilidade, não tornam a campanha eleitoral momento de festa. Incongruências no discurso de resgate, estagnação ou prosseguimento, são problemáticos e seus promotores, em particular, os presidentes Chissano e Guebuza, bem como a ex-ministra da educação e cultura, Graça Machel, devem explicação ao povo moçambicano, antes que Chapo os oiça. Aos demais candidatos, talvez não precisem de tais conselhos a serem ouvidos.
Os “Pecados” da Religião

A Pedofilia, o Celibato e o Regime Afegão/Talibã: diálogo entre a “imoralidade” e o futuro da Religião – Reflexão!
I. Na guisa das castas: “(…) toques não solicitados nos seios e beijos forçados, bem como a contactos sexuais repetidos com uma pessoa vulnerável, atos repetidos de penetração sexual e contactos sexuais com uma criança” – é o resultado de um ‘Relatório da empresa especializada Egaé’ sobre práticas criminosas e anti-éticas perpetradas por um Padre Católico francês, Abbé Pierre. São variadíssimos os casos de escândalos que envolvem vários Ministros da Eucaristia ao longo dos últimos tempos, sobretudo, depois da imposição da consciência do celibato por tratados que estabelecem as regras que responsabilizam o descumprimento do Celibato. Mas o que é o celibato? (voltaremos adiante). Doutro lado, leio que o Grupo radical islâmico (Talibã) no Afeganistão que aquartelou Bin Laden aprovou uma lei a qual “proíbe” as mulheres de abrirem a boca em praça pública com fundamento nas leis divinas – contra a condenação veemente da Comunidade internacional para a defesa e promoção dos direitos humanos. A nova lei de 35 artigos, sobre ‘A Promoção da Virtude e a Prevenção do Vício’, baseada nos preceitos do islamismo radical reforça restrições já em vigor naquele país, controlando todos os aspetos sociais e privados da vida dos afegãos, em uma interpretação extrema da lei islâmica (sharia). O texto impõe normas proibitivas que vão desde: (i) a vestimenta até a interação social, incluindo as roupas e o comprimento da barba dos homens – aliás, alguns destes homens “pelados” já foram afastados dos serviços de segurança pública –, a proibição da homossexualidade, de música em locais públicos e de feriados que não estejam no calendário religioso muçulmano; (ii) Adultério, uso de drogas e prática de jogos de azar; (iii) a criação ou visualização de imagens de seres vivos no computador ou no celular.
II. Ora, por se tratar de um direito fundamental, o qual impacta os cidadãos, a melhor defesa do ‘regime afegão’ aos olhos da comunidade internacional era para nós o de permitir que os institutos da democracia direta, o plebiscito ou o referendo, definissem ou revelassem tal vontade soberana do povo feminino. Uma democracia onde as mulheres são excluídas da vida política não pode ser vista como liberal. Antes, ditatorial. Os líderes religiosos do mundo árabe, quase sempre coniventes, deveriam ser os primeiros a repudiar tal decisão parlamentar…. Ao fazê-lo, estariam a educar essa turma de radicais, ciumentos camuflados, indecisos, impetuosos, mentecaptos e sectários que pensam – como se pensou em algum momento da história da humanidade, que o Ser humano mais fraco é produto para consumo, diversão e descarte; que o Ser humano – feito a imagem e semelhança de Deus – quando indigente é uma perdição por isso deve ser exterminado; que lidar com uma mulher que gera um homem é o mesmo que lidar com o seu cão de guarda. Mal sabem que em biologia, todos os homens são mulheres geneticamente modificados. Essa revolução mental-civilizacional não pode ser feita pelas tropas americanas como se tentou por mais de duas décadas sem sucesso; deve ser feita dentro da própria religião, entre os seus. Tal como numa guerra, há limites para tudo… daqui a pouco as mulheres não podem mais respirar… quando podiam viver mais, correm o risco de viver menos por conta dos exageros da ‘sociedade radical’. O rosto/corpo humano feito à imagem e semelhança de Deus veio e vem ao mundo descoberto; o pecado nos ensinou a sentir o calor… quando constantemente coberto em tempos de santidade/tempos de normalidade pode levar a falência de órgãos vitais a médio e longo prazo (os parasitas que se acumulam não poupam a ninguém).
III. Meus caros! impor aos outros uma conduta que nem a nós mesmo queremos que se imponha é uma das grandes imoralidades de todos os tempos; um pecado mortal contra Alláh/Deus e contra a humanidade. John S. Mill dizia: “os que negam liberdade aos outros, não merecem liberdade.” Não serão, pois, as mulheres que terão de fomentar essa revolução. As mulheres, assim como as crianças e idosos, são fisicamente inferiores aos homens por conta da testosterona diminuta. Terão de ser, grupos de homens corajosos – sob o slogan “todos os homens são também mulheres” – os que amam os valores da igualdade, da liberdade e da fraternidade, a fazê-lo. São por essas causas, sobre estas formas religiosas tribais de interpretar o Alcorão e/ou a Bíblia, que vale a pena guerrear sob a doutrina da guerra justa de um dos grandes iluminista – o Bispo de Hipona, Sto. Agostinho; assim como no crime de racismo – crime inafiançável e imprescritível, não são os membros de uma mesma etnia, de um mesmo grupo de tonalidade da pele que se devem opor; são também os membros integrantes de um grupo com a mesma tonalidade de pele e/ou fé religiosa. Conheço muitos muçulmanos que, não seguindo cegamente as leis islâmicas, também sabem respeitar os sentimentos e desejos moderados de liberdade dos outros… o amor ao próximo é dos maiores ensinamentos… e a autocrítica é de suma importância para o desenvolvimento intelectual e comunitário…
IV. Virando a página (e retomando o ponto I), escrevi em co-autoria com um distintíssimo Professor Catedrático Jubilado de Coimbra – Diogo L. de Campos, um livro onde abordei vários temas entre os quais, o Celibato (vide: https://autografia.es/product/o-estado-sanitario/). Volto a fazê-lo, aqui, com o maior prazer pela sua elevada pertinência e atualidade… o Celibato, como sinal clarividente de uma verdadeira vocação sacerdotal, tem a sua defesa na Doutrina Cristã-católica mais contemporânea na pessoa do filho de Deus, Jesus Cristo. De facto, do contrário do que muitos pensam, o que é facto é que a ideia da defesa do celibato nasce com Cristo (que viveu a santidade do corpo e da alma) e se enraíza desde a época apostólica. Com as constantes violações das regras do celibato, a ideia de responsabilização por via da lei canónica foi ganhando força entre os principais teólogos da Igreja Católica desde o ano 306, no ‘Concílio de Elvira’, na Espanha; daí o rigor do celibato se estendeu por todo o Ocidente até que (em 1123) o ‘Concílio Universal de Latrão I’, tornou-o uma das regras de cumprimento escrupuloso obrigatório para quem quisesse seguir o sacerdócio, mesmo que depois de casado. Apesar do caráter “obrigatório”, não significa que a Igreja imponha tal obrigatoriedade… sempre se respeita a liberdade individual, o livre arbítrio. Os chamados ao Sacerdócio, à vida religiosa seguem livremente o celibato enquanto uma graça especial que o Senhor concede aos operários chamados para servir a sua grande messe. Como em muitos domínios da vida, claro que há sempre muitos mafiosos/hipócritas que se metem em tudo mesmo não tendo vocação para tal… muitos, quando lá estão, fazem e desfazem e só depois saem de lá… alguns: quando ricos, claros. Outros, porque encontraram outra vocação, mas o fazem e se casam sem ofender os princípios de Deus. Parabéns! Quanto a turma dos mafiosos: não se sabe, se serviram a Deus ou se ao dinheiro. São muitos (geralmente de famílias pobres) os que entram para os Seminários/conventos… e como se diz na gíria: «só para aproveitar os estudos e o bom farnel…»; quando terminam os estudos, desistem! Cometem, assim, um pecado mortal; transformam-se em grandes advogados do diabo, verdadeiros coveiros do Anjo da morte. Para eles, Deus, é uma fantasia… uma ilusão, algo ilusório criado pelo homem para intimidar outros homens… não sei, entre estes e um ateu, quem é o melhor… Deus ama os pecadores? Evidentemente que sim. Senão não nos teria enviado o seu filho único. Mas são cada vez mais, na pós-modernidade, os grupos de coligações que visam interesses egoístas/individuais… ignorando completamente a criação total e completa de Deus!
V. Excelências! Não tenhamos ilusões… estamos diante de atos que ofendem a “dignidade de Deus”, a “dignidade do filho” (Jesus), a “dignidade do espírito santo”; ofendem a dignidade dos Arcanjos, dos Anjos e dos Santos; ofende a dignidade dos cristãos-católicos que tentam trilhar os caminhos da santidade; ofendem a dignidade das vítimas; Um verdadeiro cristão-católico – guiado pelo espírito de Deus, pela teologia e pela ciência – não tem coragem para sequer pensar em tamanha atrocidade; espíritos impuros existem… “vigiai e orai para não cairdes em tentação.” O Sacerdote, ministro revestido de dignidade, comete o crime contra os mandamentos de Deus. Equiparemos, esta ação criminosa, a traição de Judas Iscariotes. A maior traição contra Deus depois da desobediência de Adão e Eva e do crime de Caim. Um atentado “terrorista” contra Deus. Encobertar o desrespeito pelo Celibato, a tamanha violência física, psicológica e moral com fundamento de que a Igreja não pode ficar sem Sacerdotes, Bispos, etc., é um crime contra a fé em Deus depositada por via das confissões por umas centenas de fiéis de cristãos espalhados pelo mundo inteiro; uma fé depositada nos Sacerdotes que espelham a verdadeira imagem e semelhança de Deus na terra – os líderes religiosos que têm por missão pastoral conduzir o povo ao reino de Deus. Não se queira ser “humano” praticando actos cruéis e desumanos como estes que ofendem a Deus e humanidade já que se diz (como pretexto) que o Celibato rouba aos Sacerdotes a oportunidade de se “ser humano”/a condição humana. A desobediência de Adão e Eva, custou caro a humanidade; custou a vida do seu filho Abel, a vida dos filhos de Noé; de Abrão e da sua geração (Isaac e Ismael) os autores do cristianismo-católico e do Islã. Francisco, o Papa, para além de ter de lidar com o passado tenebroso da Igreja Católica (lembremos: a heresia e a Santa Inquisição) tem vindo a enfrentar várias variantes da heresia dos nossos tempos as quais acometem significativamente a Igreja Católica que volta a estar no domínio público, no centro das atenções e sempre pelos maus motivos… os casos de pedofilia, a crise pandémica que pôs a olho nu a crescente falta de fé e massificou o problema da falta de vocações e os problemas de coa-habitação religiosa entre as religiões muito por conta das heresias do passado… são os desafios atuais…!!!
VI. Julgo, por conseguinte, que a solução não está em levantar a “imunidade” entre os celibatários; está em criar uma consciência religiosa universal comum; uma consciência universal aceitável sobre o respeito a Deus e o amor ao próximo como os alicerces da boa convivência entre os homens; Os ‘Seminários’ e as ‘Igrejas’ podem fazer mais… Temos de conseguir testar a ética-cristã entre cristãos-católicos formandos. É inadmissível fazer chegar a Padre um bandido. Sempre que há um Padre, Freira, etc, de má conduta entre a comunidade cristã os formadores deveriam parar tudo para fazer uma profunda reflexão. Tal como é hoje fundamental analisar o perfil político do líder político que queremos que governe o Estado, é necessário analisar o perfil do líder religioso, pois a quem confiamos proteger Les misérables, os indigentes, assistimos o contrário (sempre a parábola do bom samaritano). É vergonhoso quando um ateu/ateia ou um pagão se torna espelho de humanidade… A olhar cada vez mais com menos otimismo e mais deceção para o futuro da humanidade, para essa falta de cultura humanista entre as religiões, para esta crescente cultura religiosa de desonra e loucura, pressinto que uma nova ‘Torre de Babel’ e uma nova ‘Arca de Noé’ está para breve; uma nova ‘Arca’ onde uma vez mais só os eleitos por Deus partirão… e isso, se as visões apocalíticas de João não se tornarem de antemão realidade… o protestantismo de Lutero que perturbou a pacífica afirmação do ‘Mistério’ no cristianismo católico e forçou os concílios supra referenciados devia visitar as outras religiões cuja praticidade se tornou perigosa nos tempos hodiernos… assim, de forma resumida, retomo em conclusão a pergunta feita a José Saramago, In Diálogos: “como podem homens sem Deus serem bons?” Sua resposta foi óbvia: “como podem homens com Deus serem maus?” Meus caros! o pensamento realista de Kant: “a religião deve estar dentro dos limites da razão” parece-me ser vital nesta nossa longa reflexão sobre os ‘limites das leis religiosas absurdas’. Cabe-nos refletir!
Hamilton Sarto Serra de Carvalho – Activista Religioso. PhD em Direito pela Universidade Autónoma de Lisboa Luís de Camões. Professor Visitante em Angola.
Eleições: Votar na Frelimo e seu Candidato é votar bem!

Vítimas de Monocefalia?

“O Debate dentro da Frelimo sobre a separação das funções entre a figura do Chefe do Estado e do Presidente da Frelimo não deve ser visto como visando o actual candidato da Frelimo à Ponta Vermelha. Deve entender-se como forma de estruturação da sociedade para melhor servir os interesses do Povo, até porque esse debate remonta a 2010. Infelizmente, nessa altura, como disse o próprio Dr. Óscar Monteiro, não esteve “atento” e as coisas chegaram ao que estamos hoje. Vale recordar que antes tarde do que nunca, ou a Monocefalia terá produzido vítimas!”
AB
“1. Condição do que tem duas cabeças, do que é bicéfalo: DICEFALIA
- Existência de dois líderes que dirigem simultaneamente a mesma estrutura ou organização; liderança bipartida.”
"Bicefalia", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2024, https://dicionario.priberam.org/bicefalia.
“Eu penso que bicefalismo nem sempre é a melhor coisa do mundo. A unidade de direcção elimina as contradições de direcção. E assim sempre foi. Mas isso é melhor explicado por quem propõe (Filipe Chimoio Paúnde). Nós tivemos até há bem pouco tempo o camarada presidente Joaquim Chissano, que saiu da liderança do partido, e o camarada Armando Guebuza ficou presidente do partido e já era presidente da República. Posso crer que muitas vezes essa preocupação conta com muitas outras preocupações que não têm nada a ver com o camarada Guebuza”.
In Canal de Moçambique, Sérgio Vieira, 02/09/2012
“O Partido Frelimo tem estado a reboque dos Presidentes da República e dos acidentes da sua governação, em detrimento do seu papel insubstituível de defensor das causas nobres, da igualdade dos homens e mulheres e, sobretudo, de defensor dos mais pobres, das largas massas, para usar uma palavra abandonada senão proscrita. Sim, precisamos de empresariado nacional, de organizadores de processos produtivos, a industrialização é uma exigência que não está a ser levada suficientemente a sério. Eles devem ter a consideração social que corresponde ao seu papel patriótico e a remuneração justa da sua criatividade, imaginação e iniciativa. Mas os Partidos como o nosso, o Partido de Mondlane, Samora e Marcelino existem para reequilibrar a sociedade e defender os mais fracos”.
In o País, de 30 de Set. 2024
Caso para se dizer: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. A questão trazida, em carta, pelo Jurista e Político Óscar Monteiro não é de hoje, vem a ser debatida desde 2010, por vários actores da sociedade, no entanto, muitos intelectuais dentro da Frelimo defenderam o princípio de “não Bicefalismo” e, segundo estes, não era a melhor forma de dirigir. Hoje, o Jurista Óscar Monteiro diz de forma taxativa que “não esteve atento”, que estranho!
Pessoalmente, já defendi este princípio, aquando, salvo erro, do X Congresso do Partido Frelimo. A reacção, na altura, foi muito boa e a reflexão foi publicada na Rubrica “Olho Aberto” do Correio da Manhã, jornal electrónico sob direcção de Refinaldo Chilengue. Mas porque as pessoas que tomam decisão viam-se numa situação de ter que aceitar uma ideia estruturante de grande impacto, vinda de outras pessoas, decidiram encontrar várias formas de dizer “NÃO” e a situação prevaleceu. Hoje, decorridos 14 anos depois de se levantar a questão, já é assunto para se debater.
Eu recordo-me que, na altura, defendia que a Frelimo tinha muitos jovens preparados para a Governação Moderna do Estado, mas que não eram detentores de capital político para dirigirem o Partido e, para que o partido não caísse numa situação de semiabandono e sem clareza nas suas funções, dever-se-ia ter um Presidente da República que fosse da época moderna e um Presidente do partido que tivesse um capital político para dirigir a Frelimo.
A questão nem se punha em termos de utilidade deste em relação ao partido ou outras questões que hoje se colocam. Se calhar, a velha guarda pensasse que não chegaria a vez de ser rendida, sendo que a experiência mostra que o partido Frelimo, de facto e de direito, está a reboque dos Presidentes. O que é pior, na minha opinião, é que todas as organizações sociais, à excepção da OJM, dependem da família Presidencial. Só hoje é que os grandes pensadores da Frelimo se apercebem disto? Se sim, é caso para dizer que andaram bastante distraídos e por muito tempo.
Por exemplo, a OMM - Organização da Mulher Moçambicana é, automaticamente e por inerência de casamento, dirigida pela esposa do Presidente da Frelimo. Isto faz sentido, nos dias que correm? Penso que não, não faz nenhum sentido, até porque, hoje em dia e no gozo das liberdades, nem sempre as mulheres alinham com o pensamento político do marido, contudo, se assumes o cargo de Presidente, a mulher se torna Presidente da OMM e vai dirigir mulheres que militam na organização há anos. Não será isto desmotivador?
Oportunidade do debate devido às eleições
Numa reflexão, com o título “Frelimo: Daniel Chapo mais próximo do povo”, voltei a este debate, não porque o candidato da Frelimo se chama Daniel Francisco Chapo, mas porque, na minha opinião, o Chefe do Estado estaria ocupado com os assuntos do Estado que jurou servir através da Constituição da República, enquanto o partido continuaria a prosseguir seus objectivos e focando-se na defesa e promoção do bem social e económico da população. No fim do dia, tanto as acções do Chefe do Estado como as do partido iriam concorrer e sem conflituar para o bem do cidadão moçambicano.
Hoje, o Chefe do Estado e o Presidente da Frelimo, por serem a mesma pessoa física, muita pouca importância se dá àquilo que é a preocupação da população. Mesmo em casos evidentes e de clamor por intervenção, nem o partido e nem o estado conseguem enxergar. Devo dizer que estas reflexões, pelo menos do meu lado, não visam o próximo Presidente da República, mas sim a regulação da nossa sociedade através duma Governação moderna e de separação de funções. Se calhar, Daniel Francisco Chapo pudesse ser diferente para melhor neste caso, mas quando se pretende organizar a sociedade, não se deve olhar para a cara de quem vai dirigir, mas no que é melhor para a sociedade.
A intervenção do Dr. Óscar Monteiro, por aquilo que é e foi, na estruturação do Estado Moçambicano, desde a sua existência, peca por ser tardia e sobretudo porque o tema em debate não é de hoje. Quando diz que “não estava atento” pode levantar outros debates desnecessários e suscetíveis de nos desviar do essencial. Entretanto, devo agradecer ao Dr. Óscar Monteiro pela reflexão, ainda que seja tardia. Provavelmente, tenha saboreado os efeitos maléficos de monocefalíssimos!
Adelino Buque
Burla democrática
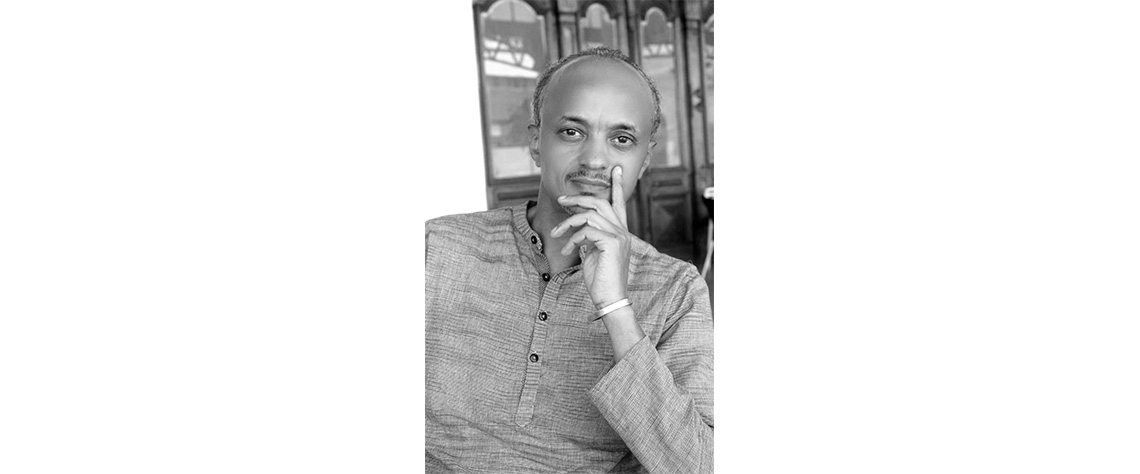
Um forasteiro latino que amiúde visita em trabalho o país, numa das suas vindas, pediu ao seu habitual taxista que o arranjasse uma prostituta para o final do seu expediente laboral de serviços de consultoria. Assim feito e sido selado com a entrega do número de telemóvel da requerida ao requerente.
Uns dias depois, e já uma sexta-feira, o forasteiro ligou para ela requerendo serviços desde o jantar ao café da manhã. Feito o compromisso e sido cumprido as responsabilidades de cada um, ambos voltaram para os respectivos aposentos. Um detalhe: o forasteiro, por experiência mundana, não usou o hotel em que estava hospedado.
Por volta do meio-dia o forasteiro recebeu uma chamada da requerida. Esta depois do ῎adorei a noite῎ e de que fora ῎a primeira vez a sentir o sabor da gastronomia latina῎ expectou-o com um pedido financeiro para a compra de uma garrafa de gás, pois não tinha como cozinhar para as crianças.
Um ou dois dias depois, os pedidos não cessaram, desde o Credelec aos gastos do salão de beleza e a mensalidade escolar das crianças, que levaram o forasteiro a ligar para o taxista a reclamar, recordando-o de que ele havia pedido uma prostitua e não uma amante.
Depois de contar este episódio a um amigo, este disse que também estava numa situação semelhante em relação a escolha dos candidatos do processo eleitoral em curso. Ainda disse de que estava com inveja do forasteiro porque este ainda teve a quem reclamar, o que não era o caso dele.
Em resumo o amigo reclamava o facto de não ver nenhuma diferença entre os candidatos, pois todos eles prometem fazer a mesma coisa e do mesmo jeito. Para ele era suposto que fosse o contrário e assim ele pudesse escolher o candidato que achasse que melhor responderia aos seus propósitos e os do país.
Sobre a sorte do forasteiro por ter tido onde reclamar, o amigo concluiu que não sabia a quem telefonar e de que apenas restava-lhe meter uma queixa-crime na Procuradoria-Geral da República contra desconhecidos, alegando de que ele está a ser vítima de uma burla democrática.
A cartelização do procurement público e um Adeus ao Rui de Carvalho

Na semana passada, mais um desses insípidos anúncios de uma adjudicação por ajuste directo veio escarrapachado no matutino incontornável, a pretexto de transparência. Tratou-se de mais uma “golpada” do conglomerado de José Parayanken, através das suas MHL Auto (concessionária da Mahindra) e FAUMIL (que detém o monopólio do fornecimento de uniformes às entidades castrenses de Moçambique).
As suas empresas gozam de um privilégio oferecido de bandeja pela UFSA. Mas seu beneficiário não é revelado nos documentos. A ligação de Parayanken com as referidas empresas é conhecida através de noticiário estrangeiro de plataformas ditas de informação classificada.
Durante muitos anos em Moçambique, beneficiários efectivos de negócios altamente lucrativos e centrados no Estado – muitos dos quais feitos a coberto da manipulação e do tráfico de influências – escondiam-se por detrás da opacidade das Sociedades Anônimas. Justamente, esse postulado legal foi revogado, agora no advento da transparência e do “follow the money”, que contempla anticorpos cada vez mais incisivos contra a lavagem de dinheiro (por favor, usem a noção de lavagem que não de branqueamento de capitais – esta última tem muito preconceito e não é assertiva.
O novo Código Comercial aprovado em 2022, e que já está em vigor desde 2023, manda que as sociedades devam ajustar os seus contratos de sociedade (Estatutos). Uma das grandes inovações deste código – em cumprimento das regras e standards da GAFI (Grupo de Acção Financeira Internacional), um órgão intergovernamental que estabelece padrões de gestão de riscos e prevenção de fraudes, bem como boas práticas no desenvolvimento de actividades relacionadas ao sector financeiro, prevenindo a lavagem de dinheiro e seu financiamento ao terrorismo – é a proibição da existência de acções ao portador. Ou seja, todas as acções das sociedades anÓnimas devem ser nominativas.
Isto significa que a falta de indicação de determinados beneficiários efectivos, nos documentos oficiais sobre contratação pública em Moçambique, como se depreende da lista da UFSA sobre os fornecedores do Estado em 2023, é uma grande afronta do nosso governo contra as regras da GAFI, depois de muito esforço feito para que possamos sair da lista cinzenta.
A questão final é: o que é que a MHL, empresa que se tornou com o nyusismo o principal fornecedor de automóveis ao Estado, incluindo veículos militares, tem a esconder? Quem a protege?
Um dos grandes desafios do futuro Governo no quadro do controlo da corrupção é justamente a remoção dos cartéis que manipulam o procurement público nos diversos sectores do Estado.
A MHL, por causa das suas ligações políticas, tornou-se no campeão do fornecimento de viaturas ao Estado, e essa dominação não decorre unicamente do “value for Money” dos seus produtos. Decorre, como disse, das suas ligações políticas e da sua capacidade de olear as máquinas corruptivas das UGEAs (Unidades de Gestão de Aquisições) sectoriais. Se a MHL domina no fornecimento de viaturas, a lista da UFSA confirma a percepção sobre uma certa cartelização do procurement público em Moçambique. Ou seja, cada sector do Estado tem o seu dono. No livro escolar, nos eleitorais, nos medicamentos e no equipamento hospitalar. Tudo tem um dono. Como reverter este cenário? Eis a questão final.
Adeus Rui de Carvalho!
PS: Morreu o jornalista Rui de Carvalho. Sua história é de alguém que, antes de ser jornalista, era uma fonte de informação. Depois foi arregimentado para uma redação. Pelas mãos do Carlos Cardoso. Creio que o Rui juntou-se à pequena equipa do mediaFAX em 1995. Eu tinha vindo de Inhambane em 1994 (onde fazia reportagem na RM) e na redacção já estavam o saudoso Orlando Muchanga e o Arnaldo Abílio (que cursou Direito e hoje exerce como Magistrado do Ministério Público). O Rui era uma fonte do CC no conturbado contexto da desmobilização depois do AGP em 1992. Ele fornecia informações sensíveis sobre os desmandos do exército, incluindo na gestão financeira, etc. Ele era um oficial do Exército, tendo chegado a patente de Capitão, com a qual foi desmobilizado. Depois das eleições de 1994, o interesse particular numa fonte como ele perdeu-se pois já não havia "assuntos''. Cardoso mandou-lhe então sentar-se na redação. E o Rui permaneceu durante dois anos. Em 1996, depois de uma “briga ética” com o editor, ele teve de sair. Mas nunca deixou o jornalismo, a par de uma militância frelimista discreta. Depois do mediaFAX, o Rui esteve ligado à fundação de algumas iniciativas editoriais, uma das quais é o semanário Público, onde a sua paixão pelo partido Frelimo ficou vastamente patente. Essa militância, valeu-lhe um lugar como Vereador no Conselho Municipal de Maputo, no acual elenco de Razaque Manhique.
Há uns meses, logo após ele tomar posse, eu disse-lhe: parabéns Rui, finalmente!
Ele retorquiu: “Finalmente o quê, Mosse! Eu estou doente”.
E falou-me penosamente da sua doença, com a voz amargurada, de um cancro da próstata que, segundo ele, foi diagnosticado tardiamente; ele não ligou aos sintomas, protelando os exames. Foram alguns amigos que notaram, num convívio, suas idas constantes ao urinol. E o alarme soou! Depois do diagnóstico, a solução era uma cirurgia, com consequente perda da virilidade. Rui imaginou a simbologia inerente a esse infortúnio e descartou tal cirurgia. Nos últimos dois anos, ele esteve sucessivamente entre a RAS, Portugal e Índia, mas seu tumor derrubou todas as radio e quimeoterapias. Ele desenvolvera uma metástase. E, nesta semana, chegou a notícia da sua morte, quase que esperada entre aqueles que acompanharam seu calvário.
Durante estes anos todos, desde 1995, mantive uma amizade afável com o Rui de Carvalho e, por isso, curvo-me aqui, na hora da sua morte! (MM)
















